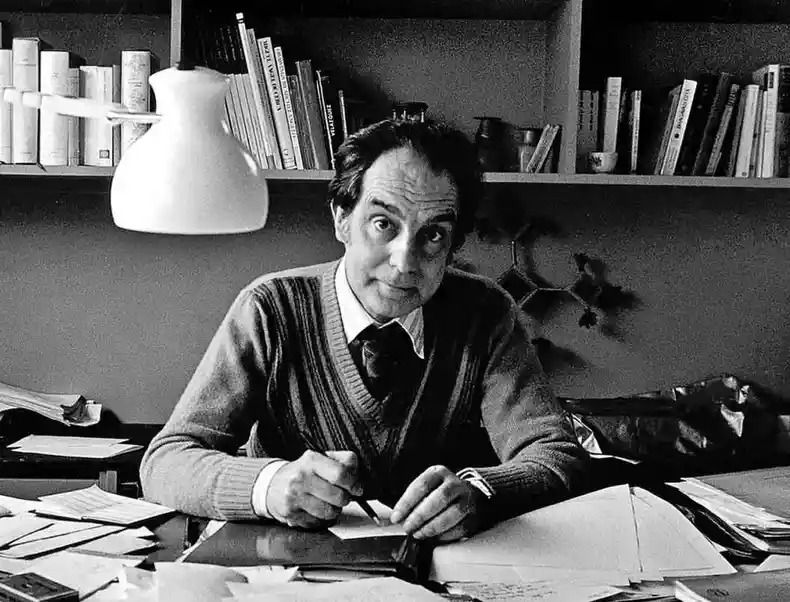
Isabel Cristina Corgosinho
9 de nov. de 2025
"...desejamos que os cursistas possam reler essas obras como uma leitura de descoberta como a primeira; para os nossos jovens, que possam comunicar ao ato da leitura um sabor e uma importância peculiares e que tenham a sorte de lê-los nas melhores condições para apreciá-los, por meio de ações pedagógicas significativas."
I – Preliminares
Esse ensaio foi escrito como registro das referências teóricas do curso Literatura, cinema e outras linguagens, que ministramos durante quatro anos na Subsecretaria de Formação Continuada da SEDF, nos anos de 2014 a 2017. Em sintonia com os pressupostos teóricos da pedagogia histórico-crítica do Currículo em Movimento, as concepções que alicerçaram o curso constituem condição imprescindível para o exercício da cidadania, na medida em que torna o indivíduo capaz de compreender o significado transformador das artes e das vozes que se manifestam por meio delas, instigando-o a pronunciar-se com voz própria na arena discursiva do debate social.
Os professores da Educação Básica foram o alvo do nosso curso, cuja atenção está contemplada nas diretrizes de Formação Continuada da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação/EAPE. Abordar a literatura em diálogo com o cinema tem como objetivo incentivar um tratamento criativo que pode ser desenvolvido com as diferentes linguagens desde os primeiros anos escolares, transformando o aprendizado da língua num processo de criação/apreciação dos variados recursos propiciados pelo código, além de fazer com que esses profissionais avancem na ressignificação das competências e habilidades por meio da arte como forma de conhecimento e transformação do contexto escolar.
De acordo com Fiorin (1994), todo texto é produto de uma criação coletiva: a voz de seu produtor se manifesta ao lado de um coro de outras vozes que já trataram do mesmo tema e com as quais se põe em acordo ou desacordo. Ler com proficiência implica ser capaz de apreender os significados inscritos no interior de um texto e de correlacionar tais significados com o conhecimento de mundo que circula no meio social em que o texto é produzido. A arte como forma de conhecimento coloca-se ao lado das demais formas de o homem intuitivamente apreender os sentidos do mundo, compreendendo e interpretando a especificidade da função estética na transgressão dos códigos. A linguagem artística privilegia o aprendizado e a competência de o professor poder operar criativamente com os saberes nas fronteiras culturais e seus dados armazenados e expressos em textos verbais e não verbais que envolvem mecanismos mais complexos de dialogismos entre as linguagens e seus modos de circulação e recepção.
O objetivo foi, portanto, aprofundar e ressignificar o estudo de obras da literatura brasileira e estrangeira, por meio de abordagens teóricas fundamentadas na perspectiva dialógica entre as artes, na retomada do conceito de autores clássico; nos estudos das teorias da adaptação dos textos literários para o cinema; na experiência estética e recepção e na função e valor estéticos.
II Por que ler os clássicos?
Italo Calvino (1993), no livro Por que ler os clássicos, apresenta várias definições do termo clássico na literatura, que foram retomadas em nosso curso como parte significativa da fundamentação teórica. As definições do escritor lígure nos são favoráveis por vários motivos: entre eles, estão os nossos cursistas professores que já leram as obras propostas em nosso curso e, ao mesmo tempo, outros cursistas e também seus alunos, que as lerão pela primeira vez. Por isso, a pertinência da segunda definição de Calvino:
dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. (CALVINO, 1993: p. 10).
No primeiro caso, desejamos que os cursistas possam reler essas obras como uma leitura de descoberta como a primeira; para os nossos jovens, que possam comunicar ao ato da leitura um sabor e uma importância peculiares e que tenham a sorte de lê-los nas melhores condições para apreciá-los, por meio de ações pedagógicas significativas.
As obras trabalhadas neste curso foram as mais citadas nas provas do ENEM e estão no rol das consideradas clássicas porque nunca terminaram de dizer aquilo que tinham para dizer. Em se considerando que os textos literário e cinematográfico são produtos de uma criação coletiva, a voz de um autor é mais uma voz que se manifesta ao lado de um coro de outras vozes, no tempo grande da literatura, com as quais se põe em acordo ou desacordo. São dialógicos os livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, segundo a sétima definição de clássico de Calvino (1993) e a perspectiva dialógica de M. Bakhtin (1993).
III – A teoria da adaptação
Robert Stam (2006) ,ao colocar o problema da adaptação de romances para o cinema, escreve um ensaio onde apresenta os vieses teóricos e práticos desse procedimento, voltados à questão da intertextualidade entre as duas linguagens artísticas. Como podemos colocar o problema da adaptação? Ela pode transmitir “o espírito” ou a presença da intenção autoral? Se levarmos em consideração a concepção bakhtiniana do autor como um orquestrador de discursos pré-existentes, chegaremos à conclusão de que a noção de obra originária é bastante relativa, é mais provável a ideia de não originalidade para todas as linguagens artísticas.
Ao desenvolver o conceito de dialogismo, Mikhail Bakhtin (1993) lança um sentido mais expansivo às práticas discursivas geradas pela cultura. “ Qualquer texto que tenha “dormido com” outro texto, como disse um gracejador pós-moderno, também já dormiu com todos os outros textos que o outro texto já dormiu. É essa “doença” textualmente transmitida que caracteriza o troca-troca que Derridá (citado por Stam 2006) chamou de “disseminação”. Dialogismo e intertextualidades são conceitos que nos ajudam a compreender e ultrapassar os dilemas tão arraigados da fidelidade do cinema à literatura, bem como a exclusão da compreensão responsiva, suplementar do leitor/espectador aos objetos artísticos.
Os conceitos de Gerard Genette (1982) citado por Stam (2006) também podem beneficiar a compreensão da teoria da adaptação ao postular os cinco tipos de relações transtextuais: a intertextualidade ( o efeito de co-presença de dois textos, nas formas de citação, plágio, paródia, paráfrase, epígrafe, alusão); a paratextualidade (títulos, prefácios, posfácios, epígrafes, dedicatórias, ilustrações. Nos filmes poderíamos considerar os pôsteres, trailers, resenhas, entrevistas etc ); a metatextualidade (evoca toda a tradição de versões crítica de romances, seja na literatura ou no cinema);a arquitextualidade (que diz respeito aos títulos e subtítulos de um texto. Nesse caso, parece ser irrelevante, se considerarmos que a maioria das adaptações carregam com elas o título do romance adaptado.). Segundo Robert Stam (2006), de todas as categorias de intertextualidades elencadas por Genette (1982), a mais relevante para as adaptações cinematográficas é a hipertextualidade, ou seja, a relação com um hipertexto com um anterior hipotexto, que o primeiro transforma, modifica, elabora ou estende. O hipertexto é considerado por Genette (1982) como aquele responsável por vitalizar as artes, por seu caráter de inventar novos canais, circuitos de significados concebidos de formas mais antigas. Uma tendência recente na literatura (e também no cinema) é reescrever um romance da perspectiva de personagens secundários ou até imaginários.
Estamos em fina sintonia com Stam (2006), quando ele declara que ao invés de ser mero “retrato” de uma realidade pré-existente, tanto o romance quanto o filme são expressões comunicativas, situadas socialmente e moldadas historicamente. Nesse sentido, realizamos as abordagens da especificidade da linguagem cinematográfica em estudo comparativo com a linguagem do romance, procurando desmistificar a transposição linear e o estatuto de superioridade de uma linguagem para outra.
IV – A experiência estética
A questão de como a experiência estética, do lado receptivo, tem se manifestado na história da arte e especificamente na relação da literatura com o leitor é sempre – em menor ou maior grau – uma exigência teórica que só vai se tornar expressiva com a entrada da Estética da Recepção no cenário da teoria da literatura.
Jauss (1967), citado por Zilberman (1989) propõe em sete teses o seu programa de reformulação da historiografia literária, sendo que as quatro primeiras têm função de premissas. A primeira demanda que a natureza histórica da literatura se manifeste durante o processo de recepção e efeito de uma obra, ou seja, quando esta se mostra apta à leitura.
É na relação dialógica entre o leitor e o texto que se dá o fato primordial da história da literatura e não no inventário elaborado após a conclusão dos eventos artísticos de um período: “A possibilidade de a obra se atualizar como resultado da leitura é o sintoma de que está viva; porém, como as leituras diferem a cada época, a obra mostra-se mutável, contrária à sua fixação numa essência sempre igual e alheia ao tempo” (ZILBERMAN, 1989, p.33).
Dessa forma, historicidade acontece como atualização e se dirige para o sujeito capaz de efetivá-la: o leitor. Jauss altera, portanto, o alvo a partir do qual se analisam os fenômenos literários. No entanto, esclarece, na segunda tese, que não é para o leitor real que dirige sua consulta, mas para a própria obra. A compreensão é a de que:
[...] a recepção e o efeito de uma obra no sistema objetivo de expectativas que, para cada obra, no momento histórico de seu aparecimento, decorre da compreensão prévia do gênero, da forma e da temática de obras anteriormente conhecidas e da oposição entre linguagem poética e linguagem prática. (ZILBERMAN, 1989, p. 34)
Nessa perspectiva, os elementos indispensáveis para aferir a recepção de um texto localizam-se no interior do sistema literário. Para essa análise, Jauss não lida com o leitor real, sujeito às mudanças de temperamento e marcado por particularidades, não interroga pessoas que, mesmo que fosse hoje, só poderiam fornecer poucas informações de épocas anteriores. Portanto, sua consulta é dirigida às próprias obras:
Pois, na medida em que participam de um processo de comunicação e precisam ser compreendidas, elas apropriam-se de elementos do código vigente. Por mais renovadora que seja, cada obra ‘não se apresenta como novidade absoluta num vazio informativo’, se não que ‘predispõe seu público por meio de indicações, sinais evidentes ou indiretos, marcas conhecidas ou avisos implícitos’. (ZILBERMAN, 1989, p. 34).
Em suma, a obra predetermina a recepção, oferecendo orientações a seu receptor. De acordo com Jauss (1967), a obra evoca o “horizonte de expectativas e as regras do jogo” familiares ao leitor, “que são imediatamente alteradas, corrigidas, transformadas ou apenas reproduzidas”. Nesse contexto, para o discípulo de Hans George Gadamer, a partir da noção de horizonte, cada leitor pode reagir individualmente a um texto, mas a recepção é um fato social.
Nesse sentido, a perspectiva apresentada no livro O ato da leitura: uma teoria do efeito estético, de Wolfgang Iser (1999), oferece alguns pontos de contato com aquilo que se espera do leitor, por exemplo, quando Iser afirma que os textos são percebidos pelos leitores como pistas, que podem se transformar em caminhos interpretativos: o pacto entre leitor e obra acontece na travessia da leitura e da escritura, já que a obra literária possui organização própria, cuja carência de sentido, ou efeito, só se completa pela presença atuante do leitor.
V – O valor estético
Por outro lado, temos a questão do valor estético, que depreendemos do estudo de Jan Mukarovsky (1990) e que interfere sobremaneira na forma como concebemos o valor da obra literária em relação às outras artes e aos fatos do cotidiano.
1) A esfera da função estética é mais ampla que a esfera do valor estético. Pois, nos casos em que a função estética apenas acompanha outra função, a questão do valor estético é também secundária na avaliação da ação ou objetos dados.
2) O cumprimento da norma não é uma condição indispensável do valor estético, especialmente porque este valor predomina sobre os outros, quer dizer, na arte.
Disto conclui-se que a arte é a esfera própria do valor estético, pois é ela a esfera privilegiada dos fenômenos estetizantes. Enquanto fora da arte o valor se subordina à norma, aqui é a norma que se subordina ao valor. A cada época que uma obra de arte é avaliada, mesmo que se tenha uma avaliação positiva, o objeto da avaliação é, em cada vez, um objeto estético diferente. Variando assim o objeto estético, muda também o valor estético. O valor de uma obra pode se transformar no decorrer dos tempos de positivo em negativo e vice-versa.
Em compensação, há obras que se mantém durante muito tempo em nível elevado, são os chamados valores eternos, como Homero, Shakespeare, Rafael, Rubens. A permanência dessas obras, porém, não deve ser compreendida como variabilidade. Seu valor pode ser histórico, representativo, escolar, exclusivo, popular etc. A permanência dos valores de certa obra deve ser vista como processo, e não como estado.
Leiamos o que diz Flávio Kothe (1994) sobre a diferenciação entre dramalhão e tragédia:
A tragédia de Hamlet parece envolver a segurança de um estado. Heine Muller, em A máquina Hamlet, denunciou isso, mostrando que para o povo, na época, faria pouca diferença quem estivesse governando no palácio. Seria, então, apenas ideologia da realeza supor que o problema de Hamlet e sua família seja uma questão pública, uma tragédia, quando para o povo e o Estado essa questão, de saber quem dormia com quem, ou quem havia tratado de eliminar a quem para assumir o poder, não passava de um drama pessoal, familiar, a rigor um dramalhão [...]. (KHOTE, 1994, p. 18)
Como podemos notar, o valor eterno de Hamlet é aqui colocado em questão, e a tragédia, em certo sentido, é colocada como um possível dramalhão. Confirma-se o que diz Mukarovsky (1990): a permanência de um valor, mesmo em Skakespeare, é um processo, e não um estado.
A variabilidade também se dá em relação a sua durabilidade. O próprio ideal da invariável durabilidade do valor estético não é, em todas as épocas e em todas as circunstâncias, o mais alto e o único desejável. Há também a arte destinada já na intenção do artista a uma validez passageira, criada para o “consumo”. A visão de Breton (1934) sobre a obra de Picasso ilustra com bastante propriedade esta questão:
Picasso é, ao [sic] meu ver, tão grande apenas porque se tem mantido permanentemente em posição defensiva perante as coisas do mundo exterior, incluindo aquelas que ele próprio criou; porque estas criações não eram para ele senão meros momentos do seu contacto (sic) com o mundo. Procurava a transitoriedade e o efêmero em si próprio, ao contrário dos artistas que buscavam orgulho e satisfação. Decorridos 20 anos, amareleceram os recortes de jornais (que colara nos seus quadros), cuja tinta de impressão, outrora fresca, contribuiu consideravelmente para a insolência desses magníficos papiers collés de 1913. A luz fez desbotar os grandes recortes azuis e cor-de-rosa, e a maliciosa humidade [sic] fê-los retorcer-se. As maravilhosas guitarras, feitas de finas tabuinhas, autênticas pontes do acaso porfiadamente construídas dia a dia sobre uma torrente de cantares, não aguentaram a frenética corrida do cantor. Mas tudo isto se passa como se Picasso tivesse contado com este empobrecimento, este esgotamento, esta decomposição. Como se ele quisesse de antemão render-se numa luta de resultado evidente mas na qual, apesar de tudo, combatem contra os elementos as coisas criadas pela mão do homem para da condescendência deles obter aquilo que tão valioso é por ser tão extremamente autêntico no próprio processo da sua desaparição. (BRETON, 1934, p. 20)
Mesmo sem mudanças de tempo e de espaço, o valor estético aparece como um processo multiforme e complexo. As razões dessa dinâmica são apontadas por Mukarovsky (1990) como sociais: a relação livre entre o artista e o consumidor, entre a arte e a sociedade. Esta cria instituições e órgãos por meio dos quais influi sobre o valor estético, regulando a avaliação das obras: a crítica, os peritos, o mercado de obras de arte e os seus meios publicitários, os inquéritos sobre as obras de maior valor, os museus, as bibliotecas públicas, os concursos, os prêmios, as academias e, por vezes, a censura.
Assim, por exemplo, o juízo do crítico é interpretado às vezes como busca de valores estéticos objetivos, outras como manifestação da reação pessoal do crítico perante a obra julgada, outras como popularização de novas obras artísticas, outras como propaganda de uma corrente artística. É por intermédio dessas instituições que muitas obras são transformadas em cânones, e outras são deixadas à margem de qualquer reconhecimento artístico. Um crítico é sempre porta-voz ou, pelo contrário, detrator, e em alguns casos dissidente de uma determinada formação social (classe, meio etc.). É bastante contundente o que Flávio Kothe (1994) nos revela sobre certa crítica brasileira:
O texto transformado em discurso, isto é, em texto canonizado pelo sistema de poder, tende a ser considerado como definitivo, pois é apresentado com a infabilidade do poder, e então quase já não se consegue mais apreender a sua definição, aquilo que faz com que passe à categoria interna de textos canonizados, é preciso decifrar a gramática do sistema que os absorve e veicula como signos. Decifra-se e desconstrói-se uma estrutura, sonhando com significações não permitidas por ela. Está-se acostumado a ver, por exemplo, incluído no cânone da literatura brasileira um conjunto de textos produzidos no período colonial, que não são textos literários, não têm grande qualidade estética e sequer foram escritos por brasileiros. São parte da literatura colonial portuguesa, da literatura portuguesa sobre ou em uma de suas colônias. Passam a ser apontados como textos fundantes de toda uma nova literatura, enquanto ficam excluídos os textos de outros grupos étnicos no país. Há a imposição de uma camisa de força, através da literatura e de outros meios de comunicação, o aniquilamento da língua e da cultura de diversos povos mediante uma política sistemática de assimilação, ao invés da integração. (KHOTE, 1994, 23)
Incluímos também uma série de obras de autores brasileiros que se fossem reavaliadas, não passariam de medíocres folhetins para donzelas. A começar pela crítica do Sr. Sílvio Romero, que homenageia uma grande parte da nossa “lixeratura”.
Em síntese, podemos apreender que o valor estético é, pois, um processo cujo movimento é determinado, por um lado, pela evolução imanente à própria estrutura artística e, por outro, pelo movimento e pelas mudanças da estrutura do convívio social. Mesmo reconhecendo a variabilidade da avaliação estética, existe um problema que continua de pé. Problema esse que a crítica séria vem perseguindo ao longo dos séculos: a objetividade do valor estético acrescentado a uma obra material. Como explicar, por exemplo, o fato de que, entre obras da mesma corrente artística e até do mesmo artista, quer dizer, entre obras que aparecem aproximadamente dentro do mesmo estado da estrutura artística e sob as mesmas condições sociais, há umas que, com toda a evidência, parecem ter maior valor que outras? Não será isso um indício do fato de a concentração da atenção – seja aprovativa, seja de rejeição – sobre uma determinada obra se poder basear, pelo menos em certos casos, num valor estético objetivamente superior?
Para tentar responder a essas perguntas, Mukarovsky (1990) retoma a análise semiológica. Começa por diferenciar a arte de outros signos comunicativos, dirigindo sua atenção para a poesia e a pintura, consideradas por ele como artes temáticas, pois nelas a função comunicativa se manifesta com maior clareza. O tipo de comunicação contida nessas artes diferencia-se, no entanto, por ser uma comunicação autêntica. Em volta do leitor, de um romance como Crime e castigo, de Dostoievsky, acumulam-se não apenas uma, mas muitas realidades. Quanto mais profundamente atraído se sente o receptor pela obra, tanto mais ampla é depois a esfera das realidades correntes e importantes na sua vida, realidades com as quais a obra adquire uma relação autêntica. A obra de arte adquire a capacidade de aludir a realidades diferentes daquelas que representa, a sistema de valores que não são aqueles de que surge e que não são a base sobre a qual foi construída.
A transformação da relação autêntica em obra-signo constitui, pois, ao mesmo tempo a sua atenuação e o seu reforço. A relação atenua-se no sentido de a obra não aludir à realidade que diretamente descreve, e reforça-se de modo que a obra artística, como signo, adquire uma relação indireta (figurada) com os fatos importantes da vida do receptor e, mediante eles, com o conjunto de valores que constituem todo o universo desse receptor. A questão do fundamento real não deixa de existir, pois o acontecimento narrado como real ou como fictício e a medida e o modo que o faz são importantes componentes da estrutura da obra poética. Nas cambiantes do modo de apresentação, está frequentemente a diferença entre as técnicas das diversas correntes artísticas e dos diversos gêneros.
Ao dar prosseguimento à sua classificação, o autor chega às artes atemáticas, assim consideradas porque a música e a arquitetura não têm conteúdos. Nessas artes, a relação autêntica do receptor com a obra de arte ocorre por intermédio de suas componentes formais e por seus recursos plásticos formais. Nas artes atemáticas, mais que nas artes temáticas, ressalta-se com maior clareza o caráter específico do signo artístico, pois serve muito mais para conseguir uma atitude global perante a realidade que para esclarecer qualquer realidade particular, sendo a primeira, precisamente, a característica geral da arte como signo.
As artes atemáticas mostram-nos, portanto, que a relação específica autêntica que une a obra de arte, como signo, à realidade pode ser transportada não somente pelo conteúdo, mas também pelas outras componentes. Componentes estas que são portadoras de uma energia significativa potencial que, emanando do conjunto da obra, determina uma atitude perante o mundo real.
Na visão de Mukarovsky (1990), a interpretação de uma obra artística como signo não pode ser unicamente individual, pois ela é por essência um fato social. Assim sendo, a atitude que o indivíduo adota perante a realidade não é uma propriedade pessoal e exclusiva. As relações em que entra a obra artística põem em funcionamento a atitude do receptor perante a realidade, e o receptor é um ser social, membro de uma coletividade.
Se as relações autênticas estabelecidas pela obra de arte se referem ao modo como o indivíduo e a coletividade concebem a realidade, acaba por ser evidente que a questão de maior importância é a dos valores extraestéticos contidos na obra de arte. Pois ela está impregnada de valores: a começar pelo material escolhido e a terminar pelas mais complexas formações temáticas.
Cada uma das componentes da obra de arte, seja ela “temática” ou “formal”, adquire no contexto da obra aquela múltipla relação autêntica. Essas componentes se convertem em portadoras dos valores extraestéticos, que, contidos numa obra de arte, formam um conjunto dinâmico, e não mecanicamente estabilizado. O dinamismo é responsável pelo contraste total entre duas apreciações – uma delas depreciativa e a outra admirativa e positiva.
Como exemplo da presença de valores extraestéticos, o autor lembra a representação monumentalizante de temas “baixos”, correntes na pintura realista do século XIX (Os caminhantes, de Coubert), ou o aproveitamento dos recursos formais da epopeia heroica para a descrição de heróis e ações que se encontravam até então somente em gêneros literários “baixos”, procedimento utilizado na poesia épica pelos poetas românticos. Fortalecendo os exemplos dados por Mukarovsky (1990), acrescentaremos uma nova leitura que faz Kothe (1994) sobre a presença do trivial na construção de obras clássicas:
Camuflados em outro gênero, um protótipo inicial da novela de detetive e do “policial” aparenta encontrar-se em Édipo-Rei, de Sófocles, que é uma busca em torno de um crime, que gera um desassossego social. O crime é, no entanto, de dupla natureza, e se tem a conjunção do detetive e do criminoso na mesma pessoa. É como se houvesse dois Édipos em Édipo, fazendo com que se torne estranho aquilo que os espectadores sabem: que o criminoso é conhecido. Ainda que este exerça no fim a violência contra os seus próprios olhos e, no início, tenha matado um homem com as suas mãos, ele é antes, enquanto buscador, o protótipo do detetive que do “policial”. Não é possível, dentro de um e do outro gênero, que o detetive se confunda com o criminoso na mesma figura: pode este até mesmo ser o narrador de uma parte, talvez até de toda a narrativa, mas há uma figura que representa o bem, e outra, o mal. Essas categorias se distinguem de um modo absoluto, sem se confundirem uma com a outra, uma na outra, e sem se converterem uma na outra, ainda que a ação corretiva do bem seja propiciada pelo advento do mal. (KHOTE, 1984, p. 25)
Entretanto, os valores extraestéticos na arte não são um assunto apenas da própria obra, mas também do receptor. Este aborda a obra com o próprio sistema de valores e com a própria atitude perante a realidade. Frequentemente parte considerável dos valores percebidos pelo receptor na obra de arte está em contradição com o sistema que para ele é válido. Essa contradição e a tensão que dela deriva produzem-se da seguinte maneira: ou o artista que criou a obra é do mesmo meio social e da mesma época que o receptor – e então as contradições entre os valores considerados efetivos e os valores da obra são consequência do deslocamento da estrutura artística, intencionalmente conseguido pelo artista – ou a obra provém de um meio temporal e socialmente diferente do receptor – e nesse caso as contradições entre os valores extraestéticos são inevitáveis.
A obra de arte, como conjunto de valores extraestéticos, não é mera réplica do sistema de valores vigentes, obrigatório para a coletividade receptora. Por isso, os valores contidos numa obra de arte não são percebidos da mesma maneira que os valores válidos na prática, pronunciados em manifestações puramente comunicativas.
Mukarovsky (1990) aborda a posição e o caráter do valor estético na arte a partir do interior da estrutura artística, isto é, a partir dos valores extraestéticos, estendidos às diversas componentes da obra, até ao valor estético que lhe dá unidade. O valor estético dissolve-se nos diversos valores extraestéticos, e não é nada mais que a denominação global da integridade dinâmica das relações mútuas entre eles.
A distinção entre um critério “formal” e um critério “temático” no estudo das obras de arte é, portanto, incorreta. O Formalismo Russo tinha razão ao afirmar que todas as componentes da obra de arte são, sem distinção, parte da forma. Mas é preciso acrescentar que também todas as componentes da obra são portadoras da significação e dos valores extraestéticos. Logo, fazem parte do conteúdo. A análise da “forma” não deve se limitar à mera análise formal.
Sendo assim, a autonomia da obra de arte e o domínio da função estética e do valor estético no seu interior não aparecem como atenuantes do contato entre a obra de arte e a realidade natural e social, mas, pelo contrário, como seus animadores permanentes. Após essas colocações, o autor vai retomar a questão do valor estético objetivo. Começa por dizer que a unidade produzida pela obra de arte não deve ser compreendida estaticamente, como uma harmonia perfeita, mas dinamicamente, como tarefa imposta pela obra ao receptor. Critica a obra cujas convergências prevalecem sobre as contradições. A eficácia da obra fica debilitada e perde-se rapidamente, porque a obra não impõe ao receptor que nela se fixe nem que a ela regresse. Por isso, as obras com fracas bases dinâmicas se automatizam com rapidez.
Se, ao contrário, a descoberta da unidade for tarefa muito difícil para o receptor, isto é, se as contradições prevalecerem sobre as convergências, pode suceder que o receptor não seja capaz de compreender a obra como construção intencional. No entanto, a imensidade das contradições que criam um excesso de obstáculos não paralisa o efeito que a obra pode produzir na mesma medida em que o faz a sua ausência: é corrente, mesmo no primeiro encontro com uma formação artística totalmente inabitual, uma impressão de desorientação, de incapacidade de descobrir a intenção unificadora da obra.
A terceira possibilidade é aquela em que tanto as convergências como as contradições são poderosas, mas se conservam em equilíbrio. Ele nos diz que esse caso é, evidentemente, ótimo e corresponde o mais completamente possível ao postulado do valor estético independente. Só a tensão entre os valores extraestéticos da obra e os valores vitais da coletividade concede à obra a possibilidade de atuar sobre a relação entre o homem e a realidade, possibilidade essa que é o encargo próprio da arte. Por isso, o valor estético, independente, do artefato artístico é tanto maior e mais duradouro quanto menos facilmente a obra se submete à interpretação literal do ponto de vista do sistema de valores geralmente aceito na época ou no meio concreto em questão.
VI- A prática interpretativa
Poderíamos apresentar a prática interpretativa entre um romance e uma adaptação fílmica, mas optamos por concluir nosso trabalho com a aplicação de alguns textos poéticos que, a nosso ver, ilustram com muita propriedade a questão da função e da norma estéticas, assim como o intrigante valor estético. O que nos levou a escolha desses nomes foi o estigma que os acompanham: desumanos, antissentimentais, tecnicistas e incompreensíveis. Instiga-nos o difícil, pois o nosso tempo é de impasses e de extremos desafios na cultura. Abraçamos as poéticas que nos coloquem a possibilidade de encarar as convergências e as contradições.
Em apenas quinze versos, Manuel Bandeira (1993) conseguiu sintetizar questões teóricas fundamentais que Mukarovsky (1990) apresentou sobre a verdadeira arte.
NOVA POÉTICA
(Manuel Bandeira)
Vou lançar a teoria do poeta sórdido.
Poeta sórdido:
Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida.
Vai um sujeito,
Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco
[bem engomada, e na primeira esquina
[passa um caminhão, salpica-lhe o paletó
[ou a calça de uma nódoa de lama:
É a vida.
O poema deve ser como a nódoa no brim:
Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero.
Sei que a poesia é também orvalho
Mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas
as virgens
cem por cento e as amadas que
envelheceram sem maldade.
19/05/1949 (Belo Belo)
A Nova Poética é uma metalinguagem dirigida àqueles que estão acostumados à fruição do brim branco, da poesia fácil, feita sob a encomenda pelas expectativas do leitor. A eles, o poeta sórdido oferece a nódoa de lama no brim. A complexidade da vida atinge a poesia: ela é prazer e desagrado. Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero é acionar a tensão que advém da diferença de valores entre o leitor e a obra de arte, é possibilitar ao indivíduo e à coletividade a apreensão de outras realidades e, portanto, cultivar uma nova sensibilidade.
Essa sensibilidade está em outro poeta e escritor. Oswald de Andrade (1991) coloca-se entre um dos primeiros a preparar a linguagem do despojamento sentimental. Em seu livro Memórias Sentimentais de João Miramar, ele realiza aquilo que Haroldo de Campos (1964) chama de a “estética do fragmentário”. Desenvolve o projeto de um livro estilhaçado, feito de elementos que se articulam no nosso espírito à medida que vamos recompondo-o, um livro que é praticamente a antologia de si mesmo. Somos surpreendidos pela superpulverização dos capítulos, que produz efeito desagregador em nossa mente, acostumada à norma da leitura linear.
Antropofagicamente, o poeta paulista soube deglutir as contribuições vindas do estilo cubista e da técnica de montagem cinematográfica. Aliado e propulsor confesso das artes de vanguarda, Oswald, com a técnica metonímica, recombina os elementos frásicos à sua disposição, arranjando-os em novas e inusitadas relações de vizinhança, afetando-os em seu nexo de contiguidade, mais ou menos como se fosse um Picasso das palavras a articular os objetos fragmentados em sua folha-tela.
O poeta paulista continua na vanguarda se comparado à estética pós-moderna que tem como um de seus eixos o fragmentário. A atualidade de sua obra está justamente na elevação do fragmento à sua forma de expressão substancial e, como tal, segundo Omar Calabrese (1987), é um discurso que mediante fragmento ou sobre fragmento não exprime um sujeito, um tempo, um espaço da enunciação, ou seja, é extemporâneo. Outra característica da obra oswaldiana é a paródia, a sátira social, denunciando a burguesia endinheirada que roda pelo mundo o seu vazio, as suas convenções, numa esterilidade apavorante.
Para Haroldo de Campos (1964), existe um rarefeito fio condutor cronológico, calcado no molde residual de um “Bildungsroman”, que nos oferece – em termos paródicos – a infância, a adolescência, a viagem de formação, os amores conjugais e extraconjugais, o divórcio, a viuvez e o desencanto meditativo do herói, o “literato” memoralista cujo nome lhe dá o título.
Nessa obra podemos encontrar aquilo que Mukarovsky (1990) chama de valor estético independente, pois todos aqueles valores que tínhamos de romance, de novela ou de conto são totalmente dirimidos diante dessa nova ideia de texto. Confirma-se que o valor estético é tanto maior e mais duradouro quanto menos facilmente a obra se submete a uma interpretação literal do ponto de vista do sistema de valores geralmente aceitos na época ou no meio em questão. Vejamos alguns fragmentos do livro Memórias Sentimentais de João Miramar (ANDRADE, 1991: 61-62).
INDIFERENÇA
Montmartre
E os moinhos do frio
As escadas atiram almas ao jazz de pernas nuas
Meus olhos vão buscando lembranças
Como gravatas achadas
Nostalgias brasileiras
São moscas na sopa de meus itinerários
São Paulo de bondes amarelos
E romantismos sob árvores noctâmbulas
Os portos de meu país são bananas negras
Sob palmeiras
Os poetas de meu país são negros
Sob bananeiras
As bananeiras de meu país
São palmas calmas
Braços de abraços desterrados que assobiam
E saias engomadas
O ring das riquezas
Brutalidade jardim
Aclimatação
Rue de la Paix
Meus olhos vão buscando gravatas
Como lembranças achadas
ORFÃO
O céu jogava tinas de água sobre o noturno que me devolvia a São Paulo.
O comboio brecou lento para as ruas molhadas, furou a gare suntuosa e me jogou nos óculos menineiros de um grupo negro.
Sentaram-me num automóvel de pêsames.
Longo soluço empurrou o corredor conhecido contra o peito magro de tia Gabriela no ritmo de luto que vestia a casa.
Outro poeta escolhido foi João Cabral de Melo Neto (1985). Assim como Bandeira, ele também declarou sua poética, concebida como antilirica:
ANTIODE
(contra a poesia dita profunda)
Poesia te escrevia:
Flor! conhecendo
que és fezes. Fezes
como qualquer,
gerando cogumelos
(raros, frágeis cogumelos)
no úmido
calor de nossa boca.
Delicado, escrevia:
Flor! (Cogumelos
serão flor? Espécie
estranha, espécie
extinta de flor, flor
não de todo flor,
mas flor, bolha
aberta no maduro).
Delicado, evitava
o estrume do poema,
seu caule, seu ovário,
suas intestinações.
Esperava as puras,
transparentes florações,
nascidas do ar, no ar,
Como as brisas.
Sei que outras
palavras és
palavras impossíveis de poema.
Embora use formas poéticas fixas, elas lembram os cantadores populares medievais e nordestinos. João Cabral deve ser estudado dentro da concepção do novo, pois a preocupação verbal vem em primeiro plano. A pesquisa criadora na área do sistema verbal traz novas maneiras de encarar a realidade artística: deforma a realidade aparente para destacar as linhas estruturais básicas. Para ele, as palavras não são patrimônio particular que podem ser usadas indistintamente. A educação do leitor acontece no exercício das logopeias: o intelecto é submetido duramente à sua arguta composição, a vida refratada na crueza verbal.
Torna-se uma aventura fascinante deixar nossa sensibilidade crítica lanhar-se nas pedras afiadas – estão vivas na mobilidade das palavras: “a de poética, sua carnadura concreta”; a do sertão, “uma pedra de nascença, estranha à alma” (NETO, 1985:15).
Conclusão
Esperamos que a nova concepção do ensino da literatura em relação dialógica com outras linguagens possa levar escritores e leitores à compreensão do significado transformador das artes e das vozes que se manifestam por meio delas, na arena discursiva do debate social. A criação e a recepção da literatura devem ser amparadas por teorias que levem em consideração a questão de como a experiência estética tem se manifestado na relação com o leitor. Hoje, mais do que nunca, é uma exigência teórica e metodológica de fundamental importância incentivar a leitura dos clássicos brasileiros, no rol das obras que nunca terminaram de dizer aquilo que tinham para dizer. Deve-se levar em consideração o ganho recíproco da relação dialógica entre leitor e texto na atualização permanente das obras, que se manifestam no tempo grande da literatura.
Sintoma de que a literatura está viva é perceber e aplaudir o crescente número de publicações de escritoras e poetas, que vem somar-se aos já consagrados clássicos brasileiros, no desafiante século XXI. Os estudos culturais nos ajuda a compreender que as leituras diferem a cada época e as obras mostram-se mutáveis, contrárias à fixação numa essência sempre igual e alheia ao tempo. Instauram-se novos valores estéticos que interferem na forma como concebemos o valor da obra literária em relação às outras artes e aos fatos do cotidiano, nos impulsionando às novas possibilidades de compreensão da vida, refratadas pela arte.
Referências
ALEXADRIAN, Sarane. O surrealismo. Tradução de Adelaide Penha e Costa. [S.I.]: Gris Impressores, 1973.
ANDRADE, Oswa1d. Memórias sentimentais de João Miramar. 3. ed. São Paulo: Globo, 1991.
BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética – a teoria do romance. Trad. Aurora Fornoni Bernadini et alii. São Paulo: Editora UNESP, 1993.
BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 1987.
BARROS, Diana Luz Pessoa de; FIORIN, José Luiz. Dialogismo, polifonia, intertextualidade: em torno de Mikhail Bakhtin. São Paulo: Edusp, 1994.
BRAIT, Beth (org.). Bakhtin, dialogismo e polifonia. São Paulo: Contexto, 2009. ______. Ironia em perspectiva polifônica. Campinas: Editora da Unicamp, 1996. ______. (Org.) Polifonia e construção do sentido. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2005.
BRETON, André. Point du jour. Paris: Gallimard, 1934.
CALABRESE, Omar. A idade neobarroca. Lisboa: Edições 70, 1987.
CALVINO, Italo. Por que ler os clássicos. Trad. Nilson Moulin. São Paulo: Companhia das letras, 1993.
CAMPOS, Haroldo de. Miramar na mira. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1964. GENETTE, Gerard. Palimpsestos a literatura de segunda mão. Trad. Luciene Guimarães e Maria Antônia Ramos Coutinho. Belo Horizonte: Faculdade de Letras, 2006.
ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético, vol.2. São Paulo: Editora 34, 1999.
KOTHE, Flavio René. A narrativa do trivial. Brasília: Editora UnB, 1993. .
MUKAROVSKY, Jan. Escritos sobre estética e semiótica da arte. Tradução de Manuel Ruas. 2. ed. Lisboa: Estampa, 1990.
NETO, João Cabral de Melo. Os melhores poemas. São Paulo: Global, 1985. PAULINO, Graça et al.. Tipos de textos, modos de leitura. Belo Horizonte: Formato Editorial, 2001.
STAM, Robert. Teoria e prática de adaptação: da fidelidade à intertextualidade. Revista Ilha do desterro, nº 51. Florianópolis, jul./dez. 2006, p. 019-53.
WALTY, Ivete. Palavra e imagem: leituras cruzadas. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. ZILBERMAN, Regina. A estética da recepção e história da literatura. São Paulo: Ática, 1989.

