A TUMBA DE PAUL VALÉRY: POESIA COM VISTA PRO MAR
- jornalbanquete
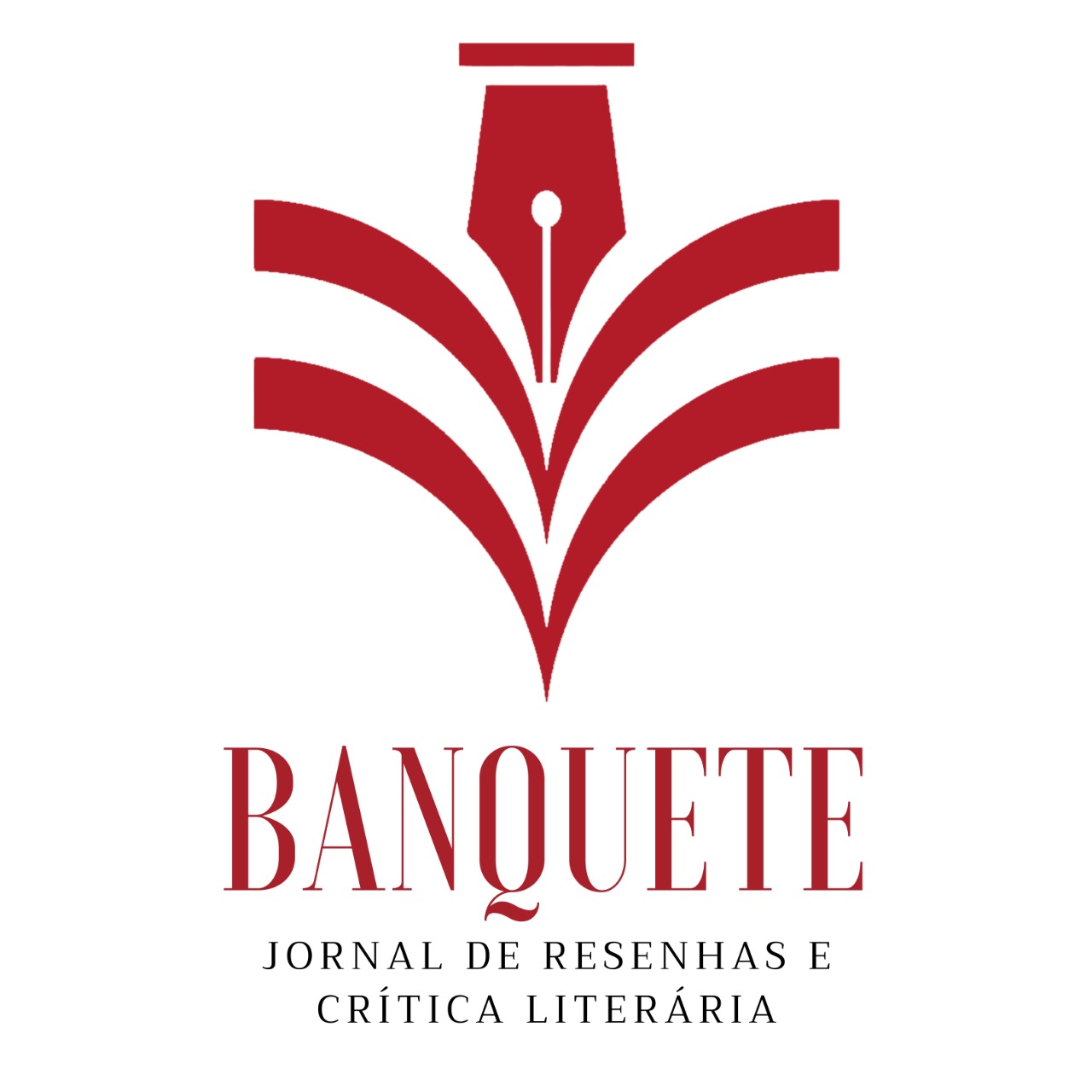
- 18 de fev. de 2024
- 16 min de leitura
Por Leo Gonçalves

I.
“Os poetas apenas fingem-se de mortos”.
Jean Cocteau
Uma foto final: o poeta em seu leito de morte. Realizada por Laure Albin-Guillot. Vemos Paul Valéry sobre uma cama que se dobra ao meio, inclinando seu tronco desde a cintura. Tudo parece calmo na superfície do corpo ainda não desfigurado pela ausência de vida. Em preto e branco, a foto revelada em prata coloidal, traz ao fundo uma sombra, uma imensa camada que redelineia na escuridão as formas de seu rosto. O ano era 1945. Laure Albin-Guillot havia ilustrado, anos antes, em edição restrita e numerada, dois trabalhos: Narciso fala, sobre o qual Paul Valéry teria comentado: “Você simplesmente fez um poema ao lado do meu”[1] e a Cantata do Narciso para a qual ela preparou todo um novo ensaio fotográfico repleto de sutilezas. A partir desse experimento, ela ilustraria livros de autores como Pierre Louÿs e Jean Cocteau. Passar das galerias e do fotojornalismo para a ilustração de livros era uma inovação. E Paul Valéry, entusiasmado com a plasticidade de suas imagens, colaboraria com ela em pelo menos mais um trabalho, agora na via inversa: uma série de fotos de árvores ilustrada com um texto dele. Mas não há colaboração nesta foto de agora. É, antes, um último registro de um artista que ela muito admirava. Registro, aliás, não tão incomum para a época. Feita num tempo em que as imagens ainda não saturavam tanto o espaço do olho, não parece haver ali um homem morto, mas em repouso. A foto fúnebre, intitulada “Le poète sur son lit de mort”, parece pensada como um quadro antigo, um poema que fizesse jus ao poeta que ela procurava laurear nesse registro de seu corpo póstumo.
Tudo bem arranjado, talvez mesmo o drapeado dos tecidos, podemos imaginar a fotógrafa posicionando suas melhores luzes para retratar uma superfície tranquila, que nos coloca em dúvida sobre o sono ou a plena ausência, como se sobre aquele corpo, naquele exato instante, passeassem pombas brancas.
Na foto um teto tranquilo, mas em Paris o momento era conturbado. A segunda guerra mundial ainda estava no ar.
Em uma homenagem feita ao filósofo Henri Bergson, que acabara de falecer, em 1941, Paul Valéry declara:
Eu pensava, no começo deste ano em que a França se encontra por baixo, sua vida submetida às provas mais duras, que eu devia exprimir aqui os votos (...) de que os tempos vindouros sejam menos amargos, menos sinistros, menos medonhos que os que vivemos em 1940, e que vivemos ainda.[2]
Avesso a debates políticos, ele se declarou certa vez pouco afeito ao “espetáculo da modernidade”. Se interessava pelas questões do espírito, do pensamento. Sua obra de certo modo inclassificável, transita entre poesia em verso e prosa, alguma ficção e o ensaio sobre as mais diversas questões estéticas. A literatura e a poesia são temas de seus textos, assim como a dança, a arquitetura, as artes visuais, o mar, a fotografia, a filosofia, o intelecto e a vida em sua imanência. Não chegamos a vê-lo digredindo longamente sobre um tema tão pungente quanto a ascenção do fascismo no entreguerras. Por isso, surpreende o tom contestador desse discurso. Mais adiante, em um momento mais ácido, ele diz que o erro de Bergson: “foi acreditar que os homens valem a pena”. E arremata afirmando não duvidar que o filósofo tivesse sido “cruelmente atingido até o fundo de si mesmo pelo desastre total cujos efeitos ainda estão nos atingindo”. Ao longo desta “Allocution prononcée à l’occasion de la mort d’Henri Bergson”, não vemos o poeta falar o nome de nenhum algoz. Mas ela tem o tom de seu mal-estar. Henri Bergson, o homenageado, era judeu. Convocado a colaborar com a ocupação, Paul Valéry se negou. Assim, após esse discurso, perderia seus dois cargos públicos: o de secretário da Académie Française, da qual fazia parte, e o de administrador do Centro Universitário Mediterrâneo de Nice.
Algo do que ele diz nesse discurso nos remete novamente à foto final de Laure Albin-Guillot. Paris havia sido liberada em agosto de 1944. Mas ainda se encontrava em frangalhos. A guerra se arrefecia rapidamente naqueles dias de 1945. Mas seu fim ainda não havia sido declarado. Há muitas formas de se matar numa guerra. Talvez, assim como ele dizia de Bergson, Paul Valéry tenha morrido do profundo golpe que foi aquele período.
Para sua morte, o presidente Charles DeGaulle pediu que se fizessem as exéquias no Panthéon, uma honraria destinada aos realizadores de grandes feitos para a nação francesa. Poucos escritores a haviam recebido. Seu antecessor imediato fora Victor Hugo e antes dele Alexandre Dumas. Após as exéquias oficiais, seu corpo foi enviado a Sète, sua cidade natal, localizada nas proximidades de Montpellier. Seu corpo foi inumado numa pomposa cerimônia, e enterrado no Cemitério Saint-Charles. Em sua lápide, fez-se gravar dois versos do Cemitério Marinho: “Oh, recompensa, que se cobra após pensar:/A calma dos deuses onde deito meus olhos”.
A partir de então, no dia 07 de agosto de 1945, data de seu enterro, o cemitério passou a se chamar Cimetière Marin – Cemitério Marinho.
II.
aqui
nesta pedra
alguém sentou
para ver o mar
o mar
não parou
pra ser olhado
foi mar pra tudo que é lado
paulo leminski[3]
O Mediterrâneo banha toda a obra de Paul Valéry.
Mar interior de maior dimensão em todo o planeta, essa porção de água representa muito mais que uma paisagem, embora para ele, ser uma paisagem já não seja pouco. Às margens desse mar, ergueram-se e afundaram-se civilizações, línguas nasceram e desapareceram, povos prosperaram e aprenderam a se adaptar a novas realidades. Foi no Mediterrâneo que ocorreram as grandes epopeias gregas e latinas, as guerras, os negócios milênios afora. Pirâmides e obeliscos. Filosofias. Culturas.
Em “Inspirações mediterrâneas”, outro texto aparentemente atípico em sua obra, Paul Valéry confidencia todo seu amor a “esse mar Mediterrâneo que, desde a minha infância, nunca deixou de estar presente aos meus olhos ou ao meu espírito”[4]. De ascendência francesa e genovesa, Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry, conhecido apenas por seu nome de pluma, Paul Valéry nasce na pequena cidade de Sète a 30 de outubro de 1871, filho de Fanny Grassi e Barthélémy Valéry. É ele mesmo quem descreve o lugar:
Nasci em um porto de importância média, encravado no fundo de um golfo, ao pé da colina, cuja massa rochosa se destaca da linha geral da costa. Essa rocha seria uma ilha se dois bancos de areia (...) não a ligassem ou a prendessem à costa do Languedoc. A colina se eleva, portanto, entre o mar e um lago muito vasto no qual começa – ou termina – o canal do Midi.[5]
Cercada pelo lago de Thau, por um lado, o canal do Midi e o Mediterrâneo, a cidade de sua infância era marcada pelo movimento dos barcos. Gabriel Faure, romancista, biógrafo e poeta, diz que “a casa onde Paul Valéry nasceu, dava para o canal; o espaço diante do prédio era menos largo que agora. De suas janelas, a criança via o movimento do porto e todos os aspectos, pitorescos em sua maioria, da vida marítima”[6]. Ao longo de sua infância, fosse na vida alegre de menino ou na vida escolar, todo o tempo suas retinas foram sendo impregnadas daquelas águas que tranbordavam por todos os lados. Ele prossegue em sua conferência: “Os olhos nesse posto privilegiado, possuem o largo, com o qual se enlevam, e a simplicidade geral do mar, enquanto a vida e a labuta humanas, que trafegam, constroem, manobram ali tão perto, aparecem do outro lado.”[7] Natureza primitiva (“idêntica àquela recebida pelos primeiros homens”[8]) e labuta humana (“cujas formas geométricas, a linha reta, os planos ou os arcos, opõem-se à desordem e aos acidentes das formas naturais”[9]) presentes em um mesmo espaço vivo. “Felicito-me por ter nascido em um lugar assim, onde minhas primeiras impressões foram as que se recebem diante do mar e nas atividades dos homens”, ele declara.
Esse interessante texto, “Inspirações mediterrâneas”, no qual confessa, não sem uma boa dose de pudor, sobre sua vida, traz um fator que lhe é muito caro: a expressão de uma experiência viva, imanente. Ele expõe sensações, sentimentos, exprime tipos diversos de angústia e de êxtase diante desse lugar onde a morte e o perigo convivem com a experiência. Um artista dedicado aos meandros da inteligência, como ele se declarava, poderia tratar de aspectos históricos, de descrições matemáticas e factuais ao redor do mar. Mas aqui seu intuito parece mais sutil, deixando que a emoção guie o raciocínio. Para ele, “jogar-se na água e no movimento, agir até os extremos, e da nuca aos dedos dos pés; revirar-se nessa pura e profunda substância, beber e respirar a divina amargura, tudo isso é (...) um jogo comparável ao amor”[10].
É essa sensação física, esse olhar para o livro líquido, que lhe servirá de base para sua longa vida dedicada à palavra. Ao logos e ao ethos que atravessa sua obra que é tão curta quanto longa.
Não vejo que livro pode valer, que autor pode edificar em nós esses estados de estupor fecundo, de contemplação e de comunhão pelos quais passei em meus primeiros anos. Melhor que qualquer leitura, melhor que os poetas, melhor que os filósofos, determinados olhares, sem pensamento definido nem definível, certas pausas sobre os elementos puros do dia, sobre os objetos mais vastos, mais simples, mais poderosamente simples e sensíveis de nossa esfera de existência (...) formam-nos, induzem-nos a sentir, sem esforço ou reflexão, a verdadeira proporção de nossa natureza, a encontrar em nós, sem dificuldades, a passagem para nosso grau mais elevado, que é também o mais ‘humano’. Possuímos de alguma forma, uma medida de todas as coisas e de nós mesmos.
Gabriel Faure nos mostra, com reproduções em preto-e-branco, que ao longo de suas diferentes fases da vida, Paul Valéry se dedicou também ao desenho e à aquarela, sempre retratando temas marinhos. Na maior parte de sua vida adulta, ele viveu em diversas cidades marítimas: Montpellier, Marselha, Cassis, Nice, Gênova. Mas Sète está sempre presente. Quem visita essa cidade nos dias atuais também notará que a recíproca é verdadeira, numa demonstração de como a poesia pode interferir na vida concreta, nos tijolos e argamassas de um lugar. Cem anos depois de sua travessia por esse mundo, ainda é possível notar os ecos de seus versos pelas pontes do canal, pelas ruas que repetem seu nome, pelas paisagens que já guardam em sua mera existência um devir de aquarela. Apesar da passagem do tempo e das invasões da modernidade, bem como da redução da atividade marinha desde que as longas viagens passaram a ser por via aérea, o mar e o porto ainda têm atividade vigorosa. Visitantes ainda hoje frequentam a cidade em busca do Musée Paul Valéry ou para caminhar pelas alamedas do Cemitério Marinho que traz na atualidade seu nome: Cimetière Marin Paul Valéry.
Sète abriga hoje o festival Vozes Vivas do Mediterrâneo. É um encontro anual onde é possível se ver e ouvir poetas de diferentes partes do mundo. Esse festival já ocorreu também em outras cidades mediterrâneas em diferentes datas. Toledo, Gênova, Sidi Bou Said, Ramallah e El Jadida. Um verdadeiro elogio do Mediterrâneo que, por vezes, recebe também participantes daquilo que chamam de “Mediterrâneo expandido”: autores latino-americanos e de outras partes do mundo que trazem em suas culturas as marcas de sua expansão. São as vozes vivas da poesia (e de suas linguagens adjacentes) reverberando aquele que foi entre todos o poeta mais apaixonado por essa extensão azul.
III.
Ay, si un día para mi mal
Viene a buscarme la parca
(...) enterradme sin duelo
Entre la playa y el cielo
En la ladera de un monte
Más alto que el horizonte
Quiero tener buena vista
(...)
Cerca del mar porque yo
nací en el Mediterráneo
Joan Manuel Serrat
“Mediterráneo”
Uma deriva.
Sète também é a terra natal de Georges Brassens, sobre quem é possível saber mais em uma visita à cidade que abriga um Espace Georges Brassens. Cantor popular, ele compunha com mais interesse pela poesia que por alguma sofisticação musical. O ritmo de suas canções é marcado pelo movimento das sílabas, pela métrica dos versos, pela rima, pelo jogo das palavras. Trata-se de um artista bem humorado que se disse “o pornógrafo do fonógrafo”. É autor de canções famosas como “Il n’y a pas d’amour heureux”, que ganhou o mundo na voz de Nina Simone e de Françoise Hardy, “Les copains d’abord” e “Je m’suis fait tout petit” que ainda hoje continuam a ser gravadas e regravadas.
Brassens tem em comum com Paul Valéry o fascínio pelo que há entre morte e vida, a preferência pela métrica fixa e referências ao mar e à vida marinha. Em “Supplique pour être enterré à la plage de Sète”, faz uma curiosa homenagem a Paul Valéry. São treze estrofes de seis versos compostas da seguinte maneira: dois alexandrinos, um octossílabo, dois alexandrinos, um octossílabo. Os alexandrinos emparelham a rima, os octossílabos rimam entre si.
Autoirônico, ele decide refazer seu testamento para pedir que seu corpo seja enterrado na praia de La Corniche, em Sète. Ele então canta que à beira dessa praia, aos quinze anos, “junto a uma sereia, uma mulher peixe”, ele teve suas primeiras lições do amor. Seu jazigo deveria ser cavado “bem na beira do mar, a dois passos das ondas azuis/(...) perto dos meus amigos de infância, os golfinhos/ ao longo dessa praia onde a areia é tão fina”. É que sua cova de família, já meio antiga, não era lá muito nova, e que ficaria difícil pedir aos que lá estão enterrados “chega pra lá um pouco/ dê lugar para os mais jovens”. Seu sepulcro “entre o céu e a água”, não dará um ar triste para o lugar, mas “um charme[11] indefinível”. As banhistas virão se esconder atrás para trocar de roupa e as crianças dirão: “que legal, um castelo de areia”. As ondinas (entidades marinhas que habitam as ondas) virão seminuas para usá-lo de travesseiro. Os ventos vindos de todos os cantos do Mediterrâneo virão derramar ecos de fandango, de tarantela, de sardana.
A certa altura ele diz:
Deferência guardada por Paul Valéry
Eu, o humilde trovador, agrego isso aqui,
O bom mestre que me perdoe.
E se seu verso tem mais valor do que o meu
Meu cemitério seja mais marinho que o seu.[12]
Georges Brassens, sempre tão jocoso, não foi, apesar da canção, enterrado na praia de Sète. Tampouco no Cemitério Marinho. Seu jazigo se encontra no Cemitério Le Py, que fica às margens do lago de Thau. Se diz que o cemitério marinho, localizado numa colina voltada para o mar, é o cemitério dos ricos. E que esse outro seria o cemitério dos pobres. Algo que novamente condiz com os versos engraçados de Brassens nos quais ele, em uma outra canção, agradece a alguém que lhe deu quatro pedaços de lenha “quando em minha vida fazia frio” e os demais lhe haviam fechado a porta na cara, a alguém que lhe deu quatro pedaços de pão “quando em minha vida fazia fome” e que os demais se divertiam em vê-lo jejuar[13].
Enterrado na praia ou não, ele mostra um pouco de sua leveza de espírito, quando canta ao final de sua “Súplica”, que erige em versos sua tumba marinha:
Pobres reis, faraós! Pobre Napoleão!
Pobres falecidos que jazem no Panteão!
Pobres dessas cinzas funéreas!
Invejareis um pouco o eterno veranista,
Que brinca de barquinho sobre a onda bem quista,
Que passa sua morte de férias...[14]
IV.
Consideremos a primeira data de aparição do poema como uma data de inauguração, uma estreia, supondo, como pretende o autor, que um poema nunca encontra seu estado final. Mas a ideia de um acabamento não é, por si só, uma conversa com o que pode haver em um cemitério? Assim, o ano inicial deste poema é 1920. Instado a dar uma forma final ao texto para que fosse incluído em um número da Nouvelle Revue Française, onde Jacques Rivière era diretor, Paul Valéry se viu na situação de terminar um projeto que não pensava deixar tão cedo. Ele se considerava de um tempo que se elaboravam “longamente os poemas, mantendo-o entre o ser e o não ser, suspenso diante do desejo durante anos”, um tempo em que “nem o Ídolo do Belo, nem a superstição da Eternidade literária estavam arruinados ainda; e a crença na Posteridade não estava totalmente abolida.” O cemitério marinho vinha sendo escrito ao longo de anos e o autor pretendia “viver com ele” ainda por muito tempo. Ao menos é o que ele declara em seu ensaio “Acerca do cemitério marinho”. Talvez de modo confessional, mas uma confissão nada ingênua de uma vida inseparável da linguagem, ele expõe algumas de suas principais concepções acerca do fazer poético. Sempre para se concluir que seus movimentos de escrita não se dão na busca de uma forma final, definitiva e sepulcral. Mas na tensão entre a possibilidade do fim e os movimentos incessantes das ondas que balançam os barcos da proa à popa.
Num prefácio escrito em 1932 à tradução argentina deste poema, Jorge Luís Borges leva essa noção de inacabamento a um nível ainda mais radical: para ele, nem mesmo os clássicos escapam a essa inconclusão – o que nos dá a compreender, segundo ele – que é essa incompletude que autoriza a tradução como a construção de uma obra dotada de suas próprias originalidades. Segundo Borges, sequer a abertura do Quixote poderia ser lida como definitiva:
Já não sei se o informe: “Em um lugar da Mancha, de cujo nome não quero me lembrar, não faz muito tempo vivia um fidalgo dos de lança em punho, adaga antiga, cavalo magro e galgo corredor” é bom para uma divindade imparcial; sei unicamente que toda modificação é sacrílega e que não posso conceber outra iniciação do Quixote. Cervantes, creio, prescindiu dessa leve superstição, e talvez não tivesse identificado esse parágrafo.[15]
E mais adiante, nos mostra de que modo Valéry se faz tradutor ao transmudar o verso do poeta espanhol Néstor Ibarra: “La pérdida en rumor de la ribera” [A perda em rumor da margem], que no “Cemitério marinho” aparece como “Le changement des rives en rumeur” (“Nessa margem que com rumor desaparece”, em nossa tradução). Interessante notar a vasta conexão desse prefácio de Jorge Luís Borges com o tema central do conto “Pierre Menard, o autor do Quixote”, publicado em seu livro Ficções em 1944. Não somente porque na catalogação das obras de Pierre Menard, encontramos “Uma transposição em alexandrinos do Cimetière marin de Paul Valéry (N. R. F., Janeiro de 1928).”
Tendo passado por diversas versões desde sua concepção inicial até a forma como se publicou[16], o que nos ficou foi um longo poema, de vinte e quatro estrofes de seis versos, cada qual obedecendo o mesmo esquema de rimas aabccb. A métrica adotada no original é o decassílabo, considerada menos solene que o alexandrino em língua francesa. “O demônio da generalização sugeria que se tentasse elevar esse Dez à potência do Doze”[17]. O alexandrino é um verso muito comum em língua francesa, que aparece em diversas obras literárias e teatrais desde Corneille, no século XVII, ou talvez desde antes, e continua a estar presente em até, como se viu, Georges Brassens. É métrica de fácil execução dentro do idioma, devido aos insistentes oxítonos e paroxítonos (únicas tônicas possíveis) e seus copiosos monossílabos. Diferente do português, onde o metro mais comum é a redondilha maior e o verso mais solene é o decassílabo heroico.
Essas questões técnicas, que hoje talvez pareçam entediantes para o leitor comum, importam muito para a imaginação criativa de Paul Valéry, como ele mesmo relata em seu texto. Mas é claro, não será isso o único prato a ser servido no poema. Uma vez que perambula pela morada dos mortos, a ligação com Dante é inevitável. E ela se dá não apenas pelo metro (a Divina Comédia é toda composta em hendecassílabos, que corresponde ao decassílabo em francês ou em português), mas também pela sua formidável sequência de imagens. Tal como o poeta italiano, o “Cemitério Marinho” é um primor de fanopeias.
O horário escolhido para o poema-solilóquio é o meio-dia, momento em que o sol se encontra a pino, numa região marcada pelo azul. Ao contrário do “Corvo”, de Edgar Allan Poe, que abre com “Once upon a midnight dreary” (Certa vez numa meia-noite sombria), o “Cemitério” se abre com um “Midi le juste y compose de feux” (O Meio-dia compondo com fogos). Se o corvo de Poe aparece em meio a cansadas horas de estudo e trabalho do narrador, aqui nos deparamos com um teto tranquilo onde passeiam pombas brancas. Ambos os poemas vagueiam por longos minutos na retina do leitor. Ambos buscam os efeitos de uma relação com a morte. Mas onde o corvo de Poe diz “nunca mais”, Paul Valéry declara: “ainda não” ou, para ser mais preciso: “há que se tentar viver”. Embora especule sobre a morte, como apontou Borges, o poema é uma imensa declaração de amor pela vida.
Talvez este seja também um sentimento mediterrâneo. Desse mesmo Mediterrâneo que banha simultaneamente três continentes. Três continentes de histórias que se interpenetram. O mesmo mar que banhou o africano Egito, milênios atrás, com sua relação particular com a morte. Que banha a Palestina e Israel nos tempos de agora e que ainda hoje é palco da dor humana, entre a morte e a vida.
O Mediterrâneo tricontinental do Cemitério Marinho tem, não vamos nos esquecer, um fundo que perpassa muitos e antigos sentimentos humanos. Poderia ser reescrito diante de outras grandes águas do mundo. Em arquipélagos e tremores, em ilhas do Pacífico, no Caribe ou na praia de Santos.
Voltemos a 1945. Paul Valéry estava com a saúde fraca, enfraquecido pela idade, pela decepção, pela falta de fé no futuro. Mas mantinha uma animada correspondência com uma mulher chamada Jeanne Leviton. No dia 13 de abril daquele ano, ele lhe escreve em meio a uma longa carta:
Jouvet, na conferência sobre sua viagem, falou de minha imensa glória na América do Sul, e dos negros que recitam o C[emitério] M[arinho]. É magnífico. Quer dizer que talvez eu já esteja pronto para ser enterrado, maduro para necrológios[18].
Esse comentário, que pode ou não ser lido hoje como um deslize quanto à questão racial de seus admiradores latino-americanos remete à epígrafe grega que ele incluiu em seu cemitério, e que ele traduziu, segundo Gabriel Faure, no exemplar de um de seus amigos assim: “Não se gabe, minha alma, de uma vida imortal/ mas aceite a realidade de seu labor”. Talvez tenha passado ao largo, para ele, a compreensão de que esse outro mar, o Atlântico, é mais que todos um imenso cemitério marinho, recordado ao longo dos séculos pelas populações negras que nasceram e estiveram do lado de cá da travessia. Como bem relembraram Édouard Glissant e Patrick Chamoiseau:
É um rumor de vários séculos. E é o canto das planícies do oceano.
As conchas sonoras se roçam aos crânios, aos ossos e às bolas de canhão esverdeadas, no fundo do Atlântico. Há nesses abismos cemitérios de navios negreiros, muitos de seus marinheiros. As rapinagens, as fronteiras violadas, as bandeiras, erguidas e caídas, do mundo ocidental. E que constelam o espesso tapete dos filhos da África dos quais se fazia comércio, aqueles que estão fora das nomenclaturas, que ninguém conhece o nome.[19]
Segundo Valéry, “não há sentido verdadeiro de um texto.” E que “uma vez publicado, um texto é como uma máquina que qualquer um pode usar à sua vontade e de acordo com seus meios: não é evidente que o construtor a use melhor que os outros.” Talvez o meio dentro do qual se perfaz o Cemitério sul-americano não tenha ocorrido a sua mente cansada. O que sabemos é que cem anos após sua composição, podemos entregar uma versão outra do poema, em dodecassílabos, à maneira de Pierre Menards negros do século XXI.
****
NOTAS
[1] Mazeder, René. “La photographie au service de la poésie” em Comoedia, 1º de maio de 1943, p. 5/7.
[2] “Allocution prononcée à l’occasion de la mort de M. Henri Bergson”, proferida na Académie Française em 1941. Disponível em: https://www.academie-francaise.fr/allocution-prononcee-loccasion-de-la-mort-de-m-henri-bergson (última consulta em 08 de novembro de 2023).
[3] Paulo Leminski. Toda poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
[4] O texto, que foi lido numa conferência na Université des Annales em 24 de novembro de 1933, aparece em português no livro Variedades. São Paulo: Iluminuras, 1999.
[5] Paul Valéry. Variedades. São Paulo: Iluminuras, 2001. p. 119
[6] Faure, Gabriel. Paul Valéry méditerranéen. Paris: Horizons de France, 1954, p. 21.
[7] Valéry, 1999, p. 119.
[8] Idem, p. 120
[9] Idem, p. 120
[10] Idem, p. 123
[11] Será uma proposital referência ao autor de Charmes?
[12] Georges Brassens. Poèmes et chansons. Paris: Seuil, 1993, p. 186. Tradução minha.
[13] “Chanson pour l’auvergnat”. Idem, p. 55
[14] Idem, p. 187.
[15] Jorge Luís Borges. “Prólogo a Paul Valéry” em El cementerio marino. Buenos Aires: Schillinger, 1932.
[16] Sobre esse tema, leia-se o posfácio de João Alexandre Barbosa em: Paul Valéry. O cemitério marinho. Trad. Jorge Wanderley. São Paulo: Max Limonad, 1974.
[17] Valéry, 1999, p. 166.
[18] Paul Valéry. Lettres à Jean Voilier: choix de lettres 1937-1945. Paris: Gallimard, 2014.
[19] Édouard Glissant e Patrick Chamoiseau. L’intraitable beauté du monde: adresse à Barack Obama. Paris: Galaade, 2009, p. 1.





Comentários