As galáxias entremilênios de Haroldo de Campos
- jornalbanquete
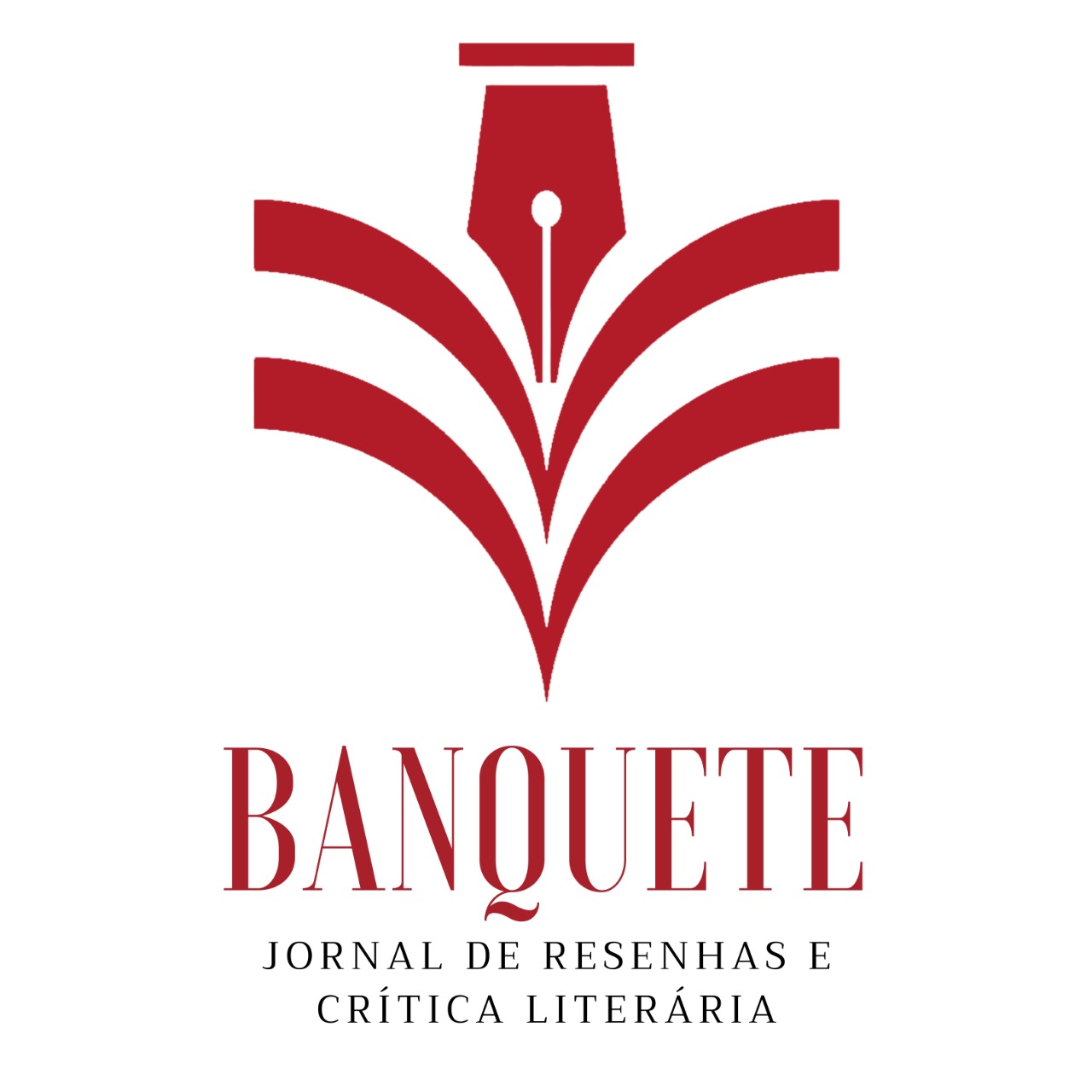
- 24 de ago.
- 16 min de leitura
Por André Dick

1
Nascido em 1929 e falecido em 2003, em São Paulo, Haroldo de Campos é um poeta-crítico que, como Octavio Paz, adota a alteridade como ponto de partida para a compreensão poética. Suas obras críticas apresentam bem esse caminho: Metalinguagem (1969) (rebatizada depois com o título Metalinguagem & outras metas), passando por A arte no horizonte do provável (1971), A obra aberta (1974), O sequestro do Barroco na formação da literatura brasileira (1989) e O arco-íris branco (1997). De algum modo, elas sempre criaram laços de ligação com os seus os livros de poesia, estão Xadrez de estrelas (1976), Signantia quasi coelum (1979), A educação dos cinco sentidos (1985), Crisantempo (1998) e o póstumo Entremilênios (2009), além de Galáxias (1984), uma prosa poética.
Estimulado por Ezra Pound, tanto por seu cânone estabelecido (o paideuma) quanto pelo estudo do ideograma chinês, Haroldo procura pontos de contato com a antropofagia de Oswald de Andrade, da década de 1920 do início do século XX, assim como com as vanguardas europeias do mesmo período, destacadamente o Futurismo e o Cubismo, procura a tradição da sincronia. Paralelamente à visão de Octavio Paz, a poesia concreta opta por trabalhar dentro de sua perspectiva “verbivocovisual”, cuja representação textual é o “poema-crítico” Un coup de dés. Trata-se, portanto, de uma referência da poesia brasileira contemporânea.
Daí Haroldo se encaixar na categoria de escritor-crítico, utilizada por Leyla Perrone-Moisés em sua obra Altas literaturas. Por ter sido um leitor de Eliot e, principalmente, de Pound, dois autores essenciais para a existência dessa categoria, Haroldo persegue, sob o ângulo sincrônico, autores e textos que sirvam tanto para sua escritura-crítica quanto para sua crítica-escritura. Perrone-Moisés afirma que os escritores-críticos perseguem a história da literatura tanto em suas obras poéticas quanto em suas obras críticas. Segundo ela (1998, p. 60), nesses escritores, “escrita e leitura são inseparáveis, e [...] consideram que erros de leitura são fatais para a escrita”. A visão sincrônica de Haroldo, com pontos de contato também com Roman Jakobson, é desencadeada por um processo de reflexão diante da escolha de autores que possam se comunicar, independente do tempo em que viveram. Assim, ele coloca Oswald e Mário de Andrade diante de Mallarmé, e o saldo do interesse de um (Oswald) e desinteresse de outro (Mário) para o programa da poesia concreta, do qual foi um dos criadores.
Leyla Perrone-Moisés (1998, p. 73) observa que Haroldo escreve e traduz tendo em mente o conceito de paiudema de Pound. Assim, tanto ensaios quanto traduções provêm de um processo seletivo, em que Haroldo considera a importância de determinada obra tanto para uma visão sincrônica quanto num panorama internacional (não apenas nacional). Na posição de escritor-crítico, Haroldo não segue nenhuma “autoridade institucional”, guiando-se pelo “gosto pessoal”, justificado por “argumentos estéticos e pela própria prática”, pois é isso que a “Modernidade herdou do Romantismo teórico-crítico” (Perrone-Moisés, 1998, p. 63). Desse modo, Perrone-Moisés faz uma bela lembrança do Romantismo, ao considerar que Haroldo de Campos bebe na fonte de uma crítica já moderna postulada por escritores do Romantismo alemão de Iena, integrado por Novalis, Friedrich Höelderlin (um escritor-crítico) e Friedrich Schlegel, entre outros, e estudado, mais tarde, por Walter Benjamin.
No ensaio referencial “Poesia e Modernidade: da morte da arte à constelação. O poema pós-utópico” (1997), Haroldo registra, por meio de sua visão sincrônica, que Octavio Paz privilegia o Romantismo alemão como “marco referencial da ‘Modernidade’” para privilegiar uma poética que alia sua construção à própria crítica embutida nela. Haroldo faz referência ao fragmento 116, de Athenaeum (1798), de Friedrich Shlegel (1994, p. 99), em que este filósofo escreve: “A poesia romântica é uma poesia universal progressiva”, que mistura “poesia e prosa, genialidade e crítica, poesia artística e poesia natural”. Nesse sentido, em muitos aspectos da obra de Haroldo de Campos, pode-se recorrer também ao fragmento 117 de Lyceum der schoenen Kuenste (1797), em que Schlegel (1994, p. 91) observa: “Poesia só pode ser criticada por poesia”, pois “um juízo artístico que não é, ele próprio, uma obra de arte, seja em seu tema, enquanto exposição da impressão necessária em seu devir, seja por meio de uma bela forma e um tom liberal no espírito das velhas sátiras romanas, não tem, em absoluto, direito de cidadania no reino da arte”. Como Haroldo trazia isso do campo crítico para seu campo poético – não menos crítico, sendo um escritor-crítico?
2
Está muito presente a sucessão de referências (culturais, de todos os tipos, geográficas e históricas, e críticas) em Entremilênios, de Haroldo de Campos, desde a primeira até a última parte. Numa nota de introdução de Carmen de P. Arruda Campos – então viúva do poeta e que finalizou a organização do volume –, lê-se que Haroldo criava como uma “explosão cósmica” – imagem muito apropriada para um autor que abraçou a “constelação” de Mallarmé durante toda a sua trajetória (Dick, 2010, p. 13). São esses estilhaços que notamos ao longo da leitura de seu livro póstumo. Estilhaços organizados a partir de rascunhos, esboços, do autor, deixando a organizadora com dúvidas quanto à grafia, como ela assinala. O trabalho poético de Haroldo mostra exatamente essa sincronia que ele trabalha em sua obra crítica – uma sincronia que tenta abranger todos os autores de que gosta e todos os estilos ao mesmo tempo. Há poemas – como já havia em A educação dos cinco sentidos e Crisantempo, sobretudo – que parecem teorizações em versos, transformando os poetas num grupo que nada junto no espaço-tempo da poesia. (Faço uma observação à parte: quando estava à procura de imagens de Haroldo para o livro Signâncias, Carmen apresentou álbuns em que dezenas de fotos do poeta pareciam constituir uma espécie de correspondência direta com sua obra, iguais a estilhaços de explosão cósmica a que ela se refere. Nesse sentido, poucas vezes vi um autor refletir em sua vida a própria obra.)
Ao mesmo tempo, Haroldo está em busca dos versos de circunstância que não sejam efêmeros – como na seção “circum-stâncias”, em que fala de cidades como Milão, Veneza ou São Paulo, num dos poemas mais significativos do livro. Há um equilíbrio entre inovação sonora e recriação de vocábulos (na seção “pinturas escritas / escritos-pinturas”, principalmente). Parece haver levemente em Entremilênios menos dispersão do que em Crisantempo, que tentava abarcar várias facetas do escritor e oscilava o estilo em várias passagens. Em Entremilênios, isso não deixa de acontecer às vezes, mas há uma maior unidade no desenvolvimento dos poemas. Além disso, eles, pelo tamanho, são mais discursivos, no sentido que Cabral disse que sua poesia se diferenciava do concretismo ortodoxo.
Ou seja, Haroldo escreve sucessivamente, como naquela explosão cósmica, e junta estilhaços de pensamento em poemas de logopeia e fanopeia, no sentido da sonoridade e das imagens que apresentam. No entanto, este excesso não foge àquilo que Ferreira Gullar considerou “frio e rebuscado” em Haroldo: o elemento estrutural, de ver o poema – independente do tamanho que tenha – como uma forma à parte, como um quadro, em que a plasticidade deve ser observada com atenção. Ou seja, nessa discursividade – a que Haroldo deu especial atenção na sua tradução da Ilíada, de Homero, recorrente na última parte de Entremilênios –, há elementos do ideogrâmico, que Haroldo estudou a partir de Pound, na atenção dada a cada vocábulo. Há, nos poemas, sob um ponto de vista estrutural, uma síntese dos elementos do barroco em imagens hiperbólicas e, ao mesmo tempo, irônicas, dialogando com Néstor Perlongher e Severo Sarduy, por exemplo. Em Haroldo, as imagens nunca são diluídas, por mais que o sentido algumas vezes escape – mas, sendo poesia, isso é bem-vindo.

3
Como se esclarece em poemas como “O lance de dados de Monet” e “Brinde em agosto” – uma homenagem a Décio Pignatari –, para Haroldo, o Un coup de dés mallarmeano continua sendo, embora não explicitado exatamente pelo estilo dos poemas, a grande síntese da “poética universal progressiva” do Romantismo. Isto não significa, porém, que o poema em questão guarde alguma semelhança com o significado que os românticos davam à poesia. O Romantismo, como a vanguarda, foi um movimento inserido na tradição da Modernidade por inaugurar a “tradição da ruptura”, querendo propor a poesia como uma nova religião. É nele que Haroldo talvez busque inspiração para sua seção “musa militante” de Entremilênios, assim como o fazia em alguns poemas de A educação dos cinco sentidos – o discurso de fundo político em Haroldo é sempre visitado por anjos de Benjamin, ou seja, ele procura por meio desses temas um escape da realidade mais conturbada. Não se trata exatamente de não querer a Torre de Marfim, na qual se indica que Mallarmé esteve parte de sua trajetória, mas de ver algo transcendental naquilo que parece apenas um discurso indicando lados opostos.
Na linha de Mallarmé, Haroldo de Campos se insere mais no campo dos poetas tipográficos, que, com o advento de Gutenberg, souberam utilizar os brancos da página como Dante suas visões absolutas na Idade Média. Pertencendo a uma linhagem que surge com mais provocação no último Mallarmé, Haroldo se associa, nesse sentido, por sua própria ligação ao surgimento da poesia concreta, ao ideograma chinês e a João Cabral de Melo Neto, que compunha sua obra como um pintor (talvez Miró). Não se trata, portanto, de uma tradição platônica, uma vez que, no Fedro, o filósofo investia contra o saber alfabético e a cultura quirográfica. É esse movimento na poesia de Haroldo de Campos, adentrando sempre na poesia moderna, que é levado pelo fluxo da poesia do autor de Un coup de dés, tal qual sua crítica, no limite do possível, consegue captar. Como observa Paulo Leminski (1986, p. 52), para os poetas de linguagem mallarmeana, “o céu estrelado é a metáfora extrema da página. Ou, com o adjetivo favorito dos simbolistas, a metáfora suprema. A página máxima”.
Por sua vez, Walter Benjamin, em fragmentos textuais, o mais importante extraído do volume Rua de mão única, chamado “Vereidigter Bücherrevisor” (Revisor de livros juramentado), que Haroldo recupera em sua tradução conjunta com Flávio Kothe, sob o título “Uma profecia de Walter Benjamin” (Benjamin, 1991, p. 54), salientava a importância de Un coup de dés para a existência dos dadaístas e futuristas. O poema seria o maior exemplo de que o poeta, avançando para o mundo da linguagem “absoluta”, acaba por se tornar um expert da grafia. Neste texto, Benjamin trabalha com a ideia de que o poeta, cada vez mais, deve se tornar um estudioso da própria tipografia, elemento importante tanto para Mallarmé, que reelaborou a “figuração da escrita”, transformando-a numa “escrita icônica”, ou seja, próxima do ideograma, “avançando cada vez mais fundo no domínio gráfico de sua nova e excêntrica figuralidade”.
Prevendo, profeticamente, a superação da escrita à caneta, sendo necessária a máquina de escrever e outros sistemas, com “formas de escritura mais variáveis” (com o computador), Benjamin afirma que as formas tipográficas serão introduzidas cada vez mais nos livros. Datados de 1928, portanto após eclodirem os movimentos de vanguarda, os fragmentos mostram que Benjamin se cerca das imagens propiciadas pelo capitalismo industrial, e pelos meios de comunicação. Faz referências ao jornal, como Mallarmé já fizera em seu Un coup de dés, considerando a contribuição de Mallarmé maior que a do Dadaísmo, que, através de Marinetti, desconsiderou o trabalho mallarmeano por apresentar ainda uma sintaxe lógica, embora entrecortada. Benjamin dá importância também à nova concepção de livro depois de Un coup de dés. Valorizando o período simbolista que descende ainda do Romantismo, Benjamin desvaloriza, de certo modo, as vanguardas do início do século XX.
Isso é plenamente aproveitável em Entremilênios, um livro que a todo momento nos lembra de como textos são impressões sobre uma página (seja material, seja virtual), mas sempre uma página que convida à reflexão. Os poemas de Haroldo de certo modo não se encaixam mais num universo em que predomina o estilo demasiadamente rápido de leitura, de redes sociais (nada contra a forma, e sim o trato dado a ele nessa corrente de leitura) – mas continua aberto a uma essência programática de caminhos diversos. Ele valoriza aquilo que Lacan destacava como a letra: “a letra, radicalmente, é o efeito de discurso” (Lacan 2008, p. 41).
É ainda mais interessante porque Haroldo recorda Benjamin ao fazer a apresentação do livro 2 ou + corpos no mesmo espaço, de Arnaldo Antunes, para a coleção Signos da Perspectiva: ele visualiza a obra desse poeta como exatamente uma das transições da página material para a página virtual. Mas é uma passagem com base reflexiva, que muitas vezes se ausenta, não meramente acessível. Não por acaso, Arnaldo já recitou um poema como “São Paulo”, presente em Entremilênios, de maneira tão enfática, e este mesmo poema foi musicado por sua antiga banda, os Titãs, com versos remetendo à Avenida Paulista e a uma cidade amplamente caótica – da qual a obra de Haroldo se alimenta.

4
Entremilênios registra de forma expressiva que, na obra de Haroldo, à medida que a Modernidade representa a “tradição da ruptura”, e as vanguardas representam o fim dessa tradição, o que se pode é tentar ser moderno. A própria noção de poesia “pós-utópica” de Haroldo da qual iniciamos falando antes no lugar de “pós-moderna”, mostra que, depois da vanguarda da qual fez parte, produzindo contatos com o “legado de Mallarmé na América Espanhola” (um dos tópicos do artigo “Poesia e Modernidade”) e de rever uma “linguagem mallarmeana” no Brasil, Haroldo têm consciência de que a ultrapassagem pela utopia da poesia concreta só pode ser feita com um “pós”. Considerando, com razão, a poesia concreta como uma nova antropofagia, bebendo da vanguarda, em sua busca por uma “nova linguagem comum [...], da linguagem reconciliada [...] no horizonte de um mundo transformado” (1997, p. 266), Haroldo visualiza, em seu “horizonte do precário”, que a vanguarda é o fim da “tradição da ruptura”, tornando-se a própria tradição do moderno vislumbrada por Octavio Paz.
O que Entremilênios deixa assinalado – mais ainda do que os livros publicados em vida por Haroldo – é que, como disse em seu conhecido ensaio sobre o poema pós-utópico, a poesia concreta não visava ao futuro. Como a modernidade, ela tentava prever um “permanente presente” – e não no sentido de não inovação, mas de referenciais de linguagem –, sobretudo no rigor e na síntese de críticas, atribuindo importância a um paideuma de autores, localizando-os sincronicamente no tempo. Fazia isso por meio de uma ideia vinda de Roman Jakobson.
Haroldo, mesmo seguindo a ideia de que a poesia concreta representa um movimento sincrônico, capaz de aliar poetas de diferentes épocas, avalia em seu ensaio que a poesia concreta não fazia mais sentido sem um movimento (acabado em meados dos anos 1960, quando os três criadores seguiram, cada um, de forma explícita, um caminho próprio). Baseado em Os filhos do barro, de Octavio Paz, Haroldo admite uma aliança das ideias do Concretismo com o primeiro Romantismo (dos filósofos de Iena, sobretudo), inserindo-a numa tradição da ruptura, o que fecha com o que Leyla Perrone-Moisés apontaria em Altas literaturas sobre os escritores-críticos. O Un coup de dés representaria o auge dessa tradição e Haroldo examina sua influência na tradição não só brasileira, mas, ampliando o escopo, a latino-americana (focalizando em Trilce, de Vallejo, ou Blanco, de Paz, poemas mais radicais).
Haroldo certamente arrefece seu ânimo diante do projeto, mas não o abandona; afirma que o Concretismo ajudou a ver a poesia concreta nas obras de diversos poetas. A posição leva exatamente ao que ele entende como “presentidade”. O que Haroldo não deixa claro – talvez deixe isso a cargo do leitor – é que o projeto da poesia concreta se insere numa tradição da modernidade, ao efetuar uma ruptura e prolongar essa ruptura selecionando rupturas anteriores, ou seja, o concretismo, como possivelmente pensava Paz, se insere numa tradição da ruptura. Como vanguarda, a poesia concreta teria insistido numa esperança ao redor de um projeto, mas, sem essa esperança, ela se tornaria inviável.
Haroldo avalia que o poema pós-utópico é aquele que já não se enquadra num movimento coletivo, mas, antes, demonstra o conhecimento da tradição, procurando o enfoque da obra aberta – o que demonstra de maneira clara em seus livros poéticos, de Auto do possesso a Entremilênios. Haroldo (1997, p. 268-269) entende que
Sem perspectiva utópica, o movimento de vanguarda perde o seu sentido. Nessa acepção, a poesia viável do presente é uma poesia de pós-vanguarda, não porque seja pós-moderna ou antimoderna, mas porque é pós-utópica. Ao projeto totalizador da vanguarda, que, no limite, só a utopia redentora pode sustentar, sucede a pluralização das poéticas possíveis. Ao princípio-esperança voltado para o futuro, sucede o princípio-realidade, fundamento ancorado no presente. [...] Esta poesia da presentidade, no meu modo de ver, não deve todavia ensejar uma poética da abdicação, não deve servir de álibi ao ecletismo regressivo ou à facilidade. Ao invés, a admissão de uma “história plural” nos incita à apropriação crítica de uma “pluralidade de passados”, sem uma prévia determinação exclusivista do futuro.
Tal pensamento, talvez seja importante destacar, Haroldo já havia configurado no ensaio “Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira”, em que mostra a poesia concreta como o ponto sincrônico de diversas tradições. Os textos de Haroldo são mais interessantes do que parecem: ao mesmo tempo que parecem apenas ignorar as ideias de subdesenvolvimento despertadas por Ferreira Gullar, ele lança mão daquilo que tornou a poesia concreta um movimento não de vanguarda, mas de utopia, campo em que se concentra a tentativa, seguida não do sucesso – o acesso ao conceito de modernizar a imprensa, a arquitetura, o urbanismo, aos meios de comunicação, à leitura de um vasto público, à modernização da poesia –, mas ao fracasso – a aceitação da perda de um público, ao encontro de uma tradição dentro da leitura, à perda dos grandes meios de comunicação, ao esquecimento. Entre o sucesso e o fracasso, a poesia concreta opta pelo segundo, ao contrário de sua fase inicial, que privilegiava o primeiro.
Além de dialogar criticamente com a fonte antropofágica de Oswald de Andrade, Haroldo percebeu que a poesia concreta seria um passo para que a Modernidade se descortinasse a seus olhos (e ela descortinasse outros autores que, a princípio, não faziam parte do paideuma, como Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes, principais autores da segunda geração modernista, que incorporaram elementos do Concretismo em suas obras durante a década de 1960). Por meio do Concretismo, soube filtrar o melhor de Mallarmé e do Simbolismo em geral, de Oswald, de João Cabral e da teoria crítica moderna, em que a escritura como espaço projetado foi se abrindo numa constelação de palavras.
Apesar de carregar essas características do poeta moderno, cabe afirmar que a dialética de Haroldo de Campos não é redutora a ponto de se recolher em si. Ao contrário: ela busca o diálogo, a intertextualidade, dentro do espaço da sua escritura. Haroldo tem consciência de que realiza uma poesia moderna, que, bem percebe Roland Barthes (2000, p. 43), “destrói a natureza espontaneamente funcional da linguagem”, em que “a Palavra explode acima de uma linha de relações esvaziadas, a gramática fica desprovida de sua finalidade, torna-se prosódia, não é mais do que uma inflexão que dura para apresentar a Palavra”. A “Palavra”, desse modo, para o poeta moderno, torna-se “morada” e, mesmo conservando a música da poesia clássica, desta vez ela é “um ato sem passado imediato, um ato sem entornos”, reunindo o “conteúdo total do Nome, e não mais o seu conteúdo eletivo como na prosa e na poesia clássicas” (Barthes, 2000, p. 44), como sugere a poesia concreta. Acompanhamos Haroldo dos concretos e barrocos, ou neobarrocos, até uma volta ao passado de Homero e sua Odisseia ou Ilíada, poemas que percorrem a Europa e as tradições mais longínquas. Como na terceira parte do poema “São Paulo”, de Entremilênios:
sob topos risca-céus
de elétricas antenas
agora
à luz de lua lâmpadófora
que pinga no olho-furta
cor dos semáforos de rua
e coa-se no neon noctâmbulo
entressonâmbula
sonhando com o
mirante sem miragem de um (fanado)
trianon trivializado
(no outro lado do paul
fantasmal de lêmures
sonados
além das pistas
da avenida paulista
num falso templo
de uma (talvez) diana
flechadora
dríades sem estamina
anoréxicas
fazem dieta
de uma garoa
que não há)
5
Entremilênios me parece superior àquela obra que acabou sendo a seminal, em vida, do poeta: A máquina do mundo repensada. O livro póstumo de Haroldo, pelo que se lê, é exatamente a máquina do mundo repensada do poeta: entremilênios poderia significar também entreobras ou entrepoetas: neste entre, está a verdadeira face de Haroldo, que parece ser maior poeta do que já se entrevia pelos seus livros conhecidos. Ou seja, Xadrez de estrelas já antecipava, em sua fase inicial, esse elemento mais discursivo na obra de Haroldo, presente em Galáxias e Entremilênios, e que pouco aparece em Signantia quasi coelum, apenas em alguns poemas de A educação dos cinco sentidos e Crisantempo. Como ele escreve em Galáxias, sua prosa poética, a respeito do “povo inventalínguas”, Haroldo é capaz de criar neologismos de uma maneira muito interessante. Nesse sentido, ele é um poeta que conhece o chão poético como poucos que lançaram livros no Brasil. E ler sua obra postumamente continua a ser a melhor forma de mantê-lo vivo. Como escreveu certa vez Sérgio Buarque de Holanda, no artigo “Rito de outono”, que analisava o primeiro livro de Haroldo, seus versos são “prudentemente governados” por uma “inteligência sempre alerta” (Holanda, 1996, p. 396). É o que mais nos preenche de otimismo.
Se havia alguma obsessão na obra de Haroldo, é que ele pretendeu verter sua persona para a página em branco da maneira mais completa, pois deixava se apagar, fazia com que sua origem proposta – a da escritura – fosse também a origem do Outro, da palavra que cerca a linguagem. Não havia “fora do texto”: havia “dentro do texto”. Mas este texto, ao mesmo, era tudo o que ele era fora dele.
O que ele escreve, fala, se faz independente da sua figura humana, pelo espaço da escrita ou da música, mas ao mesmo tempo traz a carga de sua humanidade. Em meio a essa busca, seu grande feito foi aproximar o rigor da síntese com a multiplicidade do barroco e do épico. Diminuiu a distância entre extremos, trabalhando com a solidão da página em branco, da ausência de qualquer exagero. E quando lemos Entremilênios, por exemplo, sabemos que nós também podemos entender seu texto e sua vida.
O êxito da obra talvez esteja em mostrar que o pai do texto – como queriam os estruturalistas – pode não estar ali, mas os leitores podem procurá-lo e encontrar ainda um ponto de azul entre as estrelas, na linha de um espaço curvo. Ali ele deve permanecer esperando a chegada de outras galáxias, pois “o branco é uma linguagem que se estrutura como a linguagem seus signos acenam com senhas e desígnios são sinas estes signos que se desenham num fluxo contínuo", como ele escreve em Galáxias. É ali que Haroldo está mais vivo do que nunca.
______________________________________________________________________________________
* André Dick nasceu em Porto Alegre (RS), em 1976. É poeta, crítico literário, crítico de cinema e tradutor. Doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), publicou os livros de poesia Grafias (Instituto Estadual do Livro, 2002), Papéis de parede (7Letras/Funalfa Edições, 2004), Calendário (Oficina Raquel, 2010) e Neste momento (Kotter Editorial, 2022), assim como a coletânea de traduções Poesias de Mallarmé (Lumme Editor, 2010). Também organizou Signâncias: reflexões sobre Haroldo de Campos (Risco Editorial, 2010) e A linha que nunca termina: pensando Paulo Leminski (Lamparina, 2004), este com Fabiano Calixto. Editor do site Cinematographe.
REFERÊNCIAS
ANTUNES, Arnaldo. 2 ou + corpos no mesmo espaço. São Paulo: Perspectiva, 1997.
BARTHES, Roland. O grau zero da escrita seguido de Novos ensaios críticos. Tradução de Mario Laranjeira. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
BENJAMIN, Walter. Uma profecia de Walter Benjamin. Tradução de Haroldo de Campos e Flávio Kothe. In: CAMPOS, Augusto de; CAMPOS, Haroldo de; PIGNATARI, Décio. Mallarmé. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1991. p. 193-194.
CAMPOS, Haroldo de. Entremilênios. São Paulo: Perspectiva, 2009.
CAMPOS, Haroldo de. Galáxias. 2. ed. São Paulo: 34, 2004.
CAMPOS, Haroldo de; CAMPOS, Augusto de; PIGNATARI, Décio. Mallarmé. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1991.
CAMPOS, Haroldo de. Poesia e Modernidade: da morte da arte à constelação. O poema pós-utópico. In: O arco-íris branco: ensaios de literatura e cultura. São Paulo: Imago, 1997. p. 243-269;
CAMPOS, Haroldo de. Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira. In: Metalinguagem & outras metas. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 1992. p. 231-256.
DICK, André. Poesias de Mallarmé. São Paulo: Lumme Editor, 2010.
DICK, André (Org.). Signâncias múltiplas. In: Signâncias – Reflexões sobre Haroldo de Campos: São Paulo: Risco Editorial, 2010. p. 10-28.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Rito de outono. In: O espírito e a letra: estudos de crítica literária. 1947-1958: volume II. Org., introd. e notas de Antonio Arnoni Prado. São Paulo: Companhia das Letras, 1996 .p. 393-396.
LACAN, Jacques. A função do escrito. In: O Seminário – Livro 20: Mais, ainda. Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008. p. 32-43.
LEMINSKI, Paulo. O tema astral. In: Anseios crípticos: peripécias de um investigador do sentido no torvelinho das formas e das ideias. Curitiba: Criar Edições, 1986. p. 52-54.
PAZ, Octavio. O arco e a lira. Tradução de Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.
PERRONE-MOISÉS, Leyla Altas literaturas: escolha e valor na obra crítica de escritores modernos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
SCHLEGEL, Friedrich. Conversa sobre a poesia e outros fragmentos. Tradução de Victor-Pierre Stirnimann. São Paulo: Iluminuras, 1994.





👏👏👏👏👏