Constelações barrocas: poéticas digitais e o projeto crítico de Haroldo de Campos
- jornalbanquete
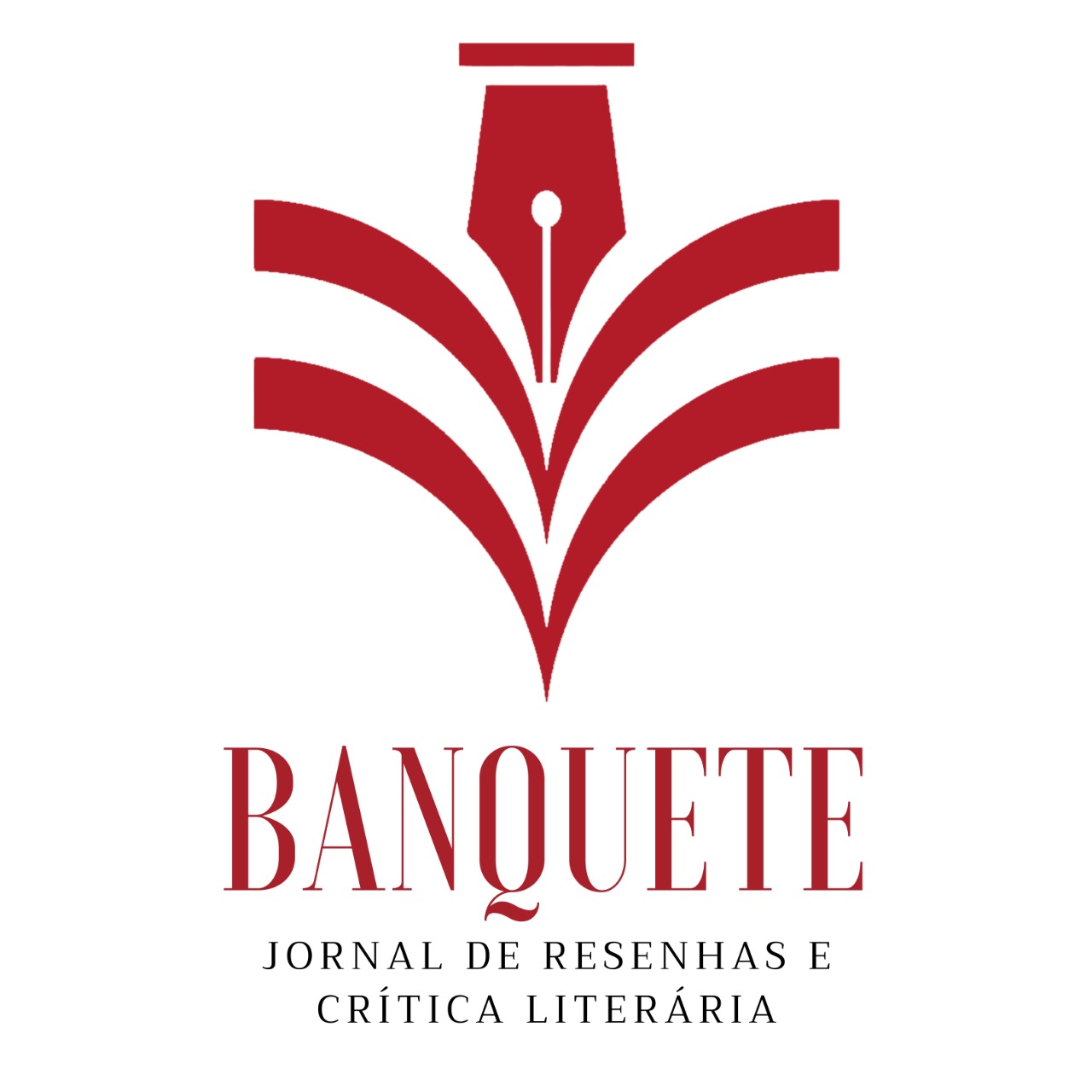
- 24 de ago. de 2025
- 8 min de leitura
Por Flaviano Maciel Vieira

Passados trinta e seis anos desde seu lançamento, o livro O sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira: o caso Gregório de Matos (1989), de Haroldo de Campos, ainda se impõe no panorama das reflexões sobre a literatura brasileira como um dos mais importantes gestos de revisão crítica de nosso cânone historiográfico. Nele, encontra-se uma crítica à ausência de Gregório de Matos, e de todo o barroco brasileiro, no sistema literário proposto por Antonio Candido em sua Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos.
No âmbito do projeto crítico de Haroldo de Campos, que inclui outras obras relevantes, como Re-Visão de Sousândrade (1964), em parceria com Augusto de Campos; A arte no horizonte do provável (1969); Morfologia de Macunaíma (1973); Metalinguagem (1967); O arco-íris branco (1997); A operação do texto (1976), entre outras, O sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira: o caso Gregório de Matos (1989) constitui, como já amplamente reconhecido, um trabalho fundamental de revisionismo da herança barroquista. Haroldo reconduz Gregório de Matos à sua merecida e verdadeira relevância na perspectiva formativa de nossa tendência criativa. Para isso, realiza uma revisão sincrônica do barroco brasileiro, reinserindo-o, de forma valorativa, no processo formativo de nossa cultura. A inventividade e a congenialidade oriundas das próprias determinantes latino-americanas configuram uma enunciação de novas diretivas para a diluição das fontes de nosso processo literário e cultural. Ao colocar o barroco como propulsor de resistência cultural, Haroldo de Campos revisa o papel da literatura colonial ao repensar o cânone sob categorias abertas e inovadoras. Influenciado por autores que representam as grandes condicionantes barrocas ibero-americanas, como Alejo Carpentier, Lezama Lima, Octavio Paz e Severo Sarduy, Haroldo reposiciona Gregório de Matos e abre um verdadeiro campo de batalha cultural, antecipando, inclusive, debates pós-coloniais que se tornariam cada vez mais relevantes nas décadas seguintes.
Buscando trilhar um caminho que não se direcione para a polêmica já amplamente discutida (a perspectiva histórica e sistêmica de Antonio Candido versus a perspectiva sincrônica e não linear de evolução de Haroldo de Campos), o objetivo deste artigo é explorar algumas reverberações teórico-críticas do livro na crítica contemporânea, sobretudo no que diz respeito aos procedimentos poéticos barrocos tensionados nas poéticas digitais. Para Haroldo de Campos, a origem da literatura brasileira não é simples, mas “vertiginosa”: teria “nascido” pronta, adulta, plenamente formada em seus recursos estéticos, numa codificação requintada e elaborada. Sendo assim, sua proposta é a de uma formação sincrônica “constelar” e “inconclusa” de nossa literatura, privilegiando seus melhores e mais importantes “momentos de ruptura e transgressão” em vez de uma formação linear e diacrônica. A sincronização baseada em um eixo barroquista, portanto, poderia incluir Gregório de Matos, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, a vanguarda concretista, Caetano Veloso, entre outros. Do ponto de vista defendido neste artigo, acrescenta-se a esse eixo sincrônico as poéticas digitais neobarrocas, aqui exemplificadas pelo poema digital CiClotron [1], de Alexandre Guarnieri [2] (texto, design e voz; animação: Lúcia Guizzo e Raphael Carretero; áudio e mixagem: Júlio Valentim; edição: Márcio Shimabukuro).
Para Hayles (2009), a literatura digital não pode ser separada do suporte em que é produzida, “nasce” no meio digital. Ela argumenta que a materialidade dos textos digitais, isto é, as propriedades físicas e técnicas do meio eletrônico, desempenha um papel fundamental na construção do significado. Isso inclui não apenas o código e o software por trás da obra, mas também as interfaces e dispositivos usados para lê-la. Para a autora:
A literatura eletrônica chega em cena após quinhentos anos de literatura impressa (e, naturalmente, após bem mais do que isso de tradução oral e manuscrita). Os leitores chegam a uma obra digital com expectativas formadas no meio impresso, incluindo um conhecimento extenso e profundo das formas de letras, convenções do meio impresso, e estilos literários impressos. Por necessidade, a literatura eletrônica deve preencher essas expectativas mesmo à medida que as modifica e as transforma. Ao mesmo tempo, e porque a literatura eletrônica é normalmente criada e executada em um contexto de rede e meios de comunicação digital programáveis, ela também é movida pelos motores da cultura contemporânea, especialmente jogos de computador, filmes, animações, artes digitais, desenho gráfico e cultura visual eletrônica. Nesse sentido, a literatura eletrônica é um “monstro esperançoso” (como os geneticistas chamam as mutações adaptativas) composto por partes extraídas de diversas tradições e que nem sempre se posicionam juntas de forma organizada (Hayles, 2009, p. 21)
Seguindo a ideia de poesia digital (ou eletrônica) como um “monstro esperançoso” imbuído de diversas tradições em meio ao seu hibridismo compositivo, o poema digital CiClotron, de Alexandre Guarnieri, será abordado neste trabalho como uma expressão poética digital neobarroca. O barroco e o neobarroco, segundo André Dick, no artigo Jardim ‘transbarroco’, publicado na Revista Zunái:
Fazem frente a uma linha pseudo-romântica, que costuma ser uma tradição aliada a um excesso verbal sem um trabalho de linguagem interessante. O apuro verbal, o trabalho que implica a reprodução de leituras matizadas por um novo olhar, com os quais os poetas neobarrocos trabalham, é nitidamente amplo. Se esses não têm a preocupação religiosa que tinham os poetas barrocos, nem se dividem em escolas ligadas a Gôngora ou a Quevedo, desapegando-se de uma discussão filosófica sobre o corpo e a alma, embora não desconsidere as questões que se mostrem além do olhar, eles ainda se situam entre uma clareza e uma obscuridade constantes no tratamento que dão ao texto como encontro de linguagens e tradições, somadas a uma dicção contemporânea. [3]
A amplitude de um novo olhar e a hibridização sígnica apontadas por André Dick demonstram como o neobarroco explora o encontro e a tensão de linguagens e tradições que traduzem um apuro estético verbal e visual. Instabilidade formal, elementos lúdicos e sensoriais, dimensão visual e persuasória, assim como o pacto lúdico (Ávila, 2012), complementam a manifestação estética neobarroca presente no poema cinético de Alexandre Guarnieri e configuram de forma precisa as perspectivas teóricas e críticas advindas do ensaio de reavaliação e resgate crítico de Haroldo de Campos. As múltiplas possibilidades de leitura do poema digital permitem uma nova experiência literária, viabilizando diversas abordagens analíticas que ativam o pacto lúdico entre obra e leitor, transformando-o em coautor diante da polissemia característica desse tipo de produção. Esse aspecto dialoga com a perspectiva das manifestações literárias incipientes e assistemáticas proposta por Haroldo de Campos, sobretudo aquelas que enfatizam a função poética e a função metalinguística na composição do texto.
Que a FUNÇÃO POÉTICA e a FUNÇÃO METALINGUÍSTICA possam aliar-se numa prática literária com dominante lúdica ou crítico-escritural, é algo que parece não caber nessa modelização triádica da literatura como “sistema simbólico” de “comunicação inter-humana” (CAMPOS, 2011, p. 35)
Com essas funções predominantes na composição de Alexandre Guarnieri, a estética da superabundância e do desperdício, proposta por Severo Sarduy, é nitidamente trabalhada no poema CiClotron, assim como a “vertigem do lúdico” apontada por Affonso Ávila. Vejamos, portanto, como as perspectivas composicionais se aproximam e como o lúdico e as projeções do mundo barroco (Ávila, 2012) podem ser explorados no poema cinético de Alexandre Guarnieri. Sem a intenção de realizar uma análise dos poemas, o objetivo aqui é apenas destacar as características teórico-críticas levantadas por Haroldo de Campos em sua revalorização do barroco.


O que se pode constatar, entre outras coisas, é que a poesia digital apresenta a função transgressora proposta pelo Sequestro do Barroco, o que leva a crítica literária contemporânea a interpretá-la nesse sentido, remetendo a criação a uma tradição em transformação. Segundo a perspectiva de Haroldo de Campos, trata-se de um processo aberto e não conclusivo, distante de qualquer postura essencialista, mas marcado por momentos de ruptura e transgressão, em um constante e renovado questionamento da diacronia pela sincronia.
O barroco, nesse contexto digital, reaparece como potência criadora inserida em uma constelação de momentos que reúnem ruptura e renovação estética.
Podemos imaginar assim, alternativamente, uma história literária menos como formação do que como transformação. Menos como processo conclusivo, do que como processo aberto. Uma história onde relevem os momentos de ruptura e transgressão e que entenda a tradição não de um modo “essencialista” (“a formação da continuidade literária – espécie de transmissão da tocha entre corredores, que asseguram no tempo o movimento conjunto, definindo os lineamentos de um todo”, como ela é concebida na Formação, I, 24), mas como uma “dialética da pergunta e da resposta”, um constante e renovado questionamento da diacronia pela sincronia (CAMPOS, 2011, p. 66)
O sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira: o caso Gregório de Matos (1989), de Haroldo de Campos, como se pode perceber, ainda nos ilumina como um ensaio teórico de reavaliação e resgate crítico dos mais relevantes para o devido entendimento de nosso processo literário. Suas marcas ideológicas e antropológicas, de origem comum e transnacional, sob o signo do barroco, ainda nos orientam sobre como contestar e rearticular o processo aberto de nossa formação literária. Como manifesto estético e exercício criador, o livro acumula camadas que culminam em erudição filológica, retórica argumentativa e brilho verbal.
Diante da ótica contemporânea, a metáfora do “sequestro” ganha ressonâncias novas, capazes de suscitar discussões próprias da contemporaneidade. Para os objetivos deste trabalho, contudo, destacamos o foco nas poéticas digitais, ainda carentes de atenção e valorização por parte da crítica literária, ressaltando a importância da hibridização das formas para a legitimação de uma estética da mistura, fortalecendo, assim, o barroco como operador crítico no universo da literatura digital.
Para a leitura dessas poéticas digitais, os pressupostos teóricos e críticos apresentados por Haroldo de Campos em seu ensaio funcionam como elementos norteadores para melhor assimilar muitas dessas produções computacionais que exploram o metacódigo e o anticódigo barroquistas, constantes em jogos de palavras e torneios de sintaxe, agora hibridizados com torneios de parataxe, interatividade, hipertexto, intermidialidade, tornando a linguagem um processo ainda mais lúdico, cocriado conjuntamente com o leitor, processo inerente às poéticas de invenção. A sobreposição de signos, a teatralidade e a multiplicidade da linguagem, além da exuberância formal descritas por Haroldo, dialogam com práticas próprias da contemporaneidade, como, por exemplo, a montagem, a intermidialidade e o remix.
Nesse sentido, O sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira: o caso Gregório de Matos (1989) pode ser relido como um ensaio precursor que buscou legitimar formas artísticas complexas, não lineares e não sistemáticas, antecipando, de certo modo, a cultura das redes e da fragmentação criativa. Décadas após a sua publicação, continua provocando e se mantém como ensaio de reavaliação crítica incontornável, por conta de um pensamento que privilegia, como vimos, a função poética e a função metalinguística, em torno da montagem, do desvio e da tensão criativa entre passado e presente.
A partir da perspectiva criadora defendida pelo autor, fundamental para a reavaliação crítica do barroco como base formativa de nossa literatura, observamos que as poéticas digitais também integram o espectro barroco que retorna ciclicamente à história de nossa literatura. Na contemporaneidade, ressonâncias barrocas podem ser identificadas em gêneros diversos, que vão dos poemas visuais à literatura digital, do rap à prosa afro-indígena, demonstrando as tensões presentes nas estéticas que expressam superabundância sígnica, hibridismos e transgressões próprias de vozes que escapam a formas clássicas de composição literária. Inserir as poéticas digitais no eixo barroquista proposto por Haroldo de Campos configura uma perspectiva crítica que acompanha sua visão da história como campo de disputas aberto a novas leituras, sendo o barroco um elemento vital para continuarmos refletindo criticamente sobre nossa literatura. Nessa ótica, o barroco, historicamente periodizado, marginalizado, suprimido e, por vezes, estetizado à exaustão, reaparece nas poéticas digitais como questão simultaneamente estética e crítica, recolocando em pauta perspectivas de ruptura e dissonância.
Sem dúvida, O sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira: o caso Gregório de Matos (1989), de Haroldo de Campos, mantém-se atual por antecipar, entre outras questões, muitos debates contemporâneos. Sua leitura do barroco constitui uma aposta no devir da forma e na potencialidade da linguagem literária como transgressão, desvio, singularidade e invenção. O livro permanece como manifesto em defesa de uma multiplicidade insurgente da criação verbal, apresentando uma proposta constelar e polifônica que dialoga com as demandas contemporâneas de pluralidade estética.
Evidencia-se, portanto, a permanência, a atualidade e a importância do debate proposto por Haroldo de Campos em seu ensaio de revalorização crítica do barroco, tanto para compreendermos nosso processo de formação literária quanto para pensarmos a contemporaneidade. Sua leitura constelar e não linear de nossa literatura, centrada na dimensão estética da linguagem e na disjunção das formas proporcionada pelo barroco, continua enunciando diretrizes essenciais para a elucidação crítica das formas barroquizantes em diferentes momentos de nossa história, incluindo as atuais poéticas digitais.
______________________________________________________________________________________
* Flaviano Maciel Vieira nasceu em João Pessoa (PB). É professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Tem participações nas publicações: A linguagem da poesia (Editora Universitária da UFPB), Epifania da poesia - Ensaios sobre haicais de Saulo Mendonça (Ideia, 2012) e Turbilhões do tempo: notas e anotações sobre poesia digital (Ideia, 2015), organizadas por Amador Ribeiro Neto. Tem poemas publicados na revista Ruído Manifesto e no livro Novas vozes da poesia brasileira: uma antologia crítica (Ed. Arribaçã), organizado por Claudio Daniel.
Notas
1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tkF0TEja7Go. Acesso em: 9 ago. 2025.
2 Alexandre Guarnieri nasceu em 1974. É poeta, historiador da arte (pela UERJ) e mestre em Comunicação e Cultura (pela UFRJ). Integra, desde 2012, o corpo editorial da revista eletrônica Mallarmagens. Ganhou, em 2015, com seu segundo livro, Corpo de festim, o 57º prêmio Jabuti, na categoria Poesia.
3 Disponível em: http://www.revistazunai.com/ensaios/andre_dick_jardim_transbarroco.htm. Acesso em: 10 ago. 2025.
REFERÊNCIAS
ÁVILA, Affonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco I: uma linguagem a dos cortes, uma consciência dos luces. São Paulo: Perspectiva, 2012.
CAMPOS, Haroldo. O sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira: o caso Gregório de Matos. São Paulo: Iluminuras, 2011.
DICK, André. Jardim transbarroco. Zunái, Revista de Poesia e Debates. Disponível em: http://www.revistazunai.com/ensaios/andre_dick_jardim_transbarroco.htm. Acesso em: 10 ago. 2025.
HAYLES, N. Katherine. Literatura eletrônica: novos horizontes para o literário. Tradução de Luciana Lhullier e Ricardo Moura Buchweitz. São Paulo: Global: Fundação Universiodade de Passo Fundo, 2009.


Comentários