Haroldo de Campos: seguimento de uma (irreprochável) trajetória
- jornalbanquete
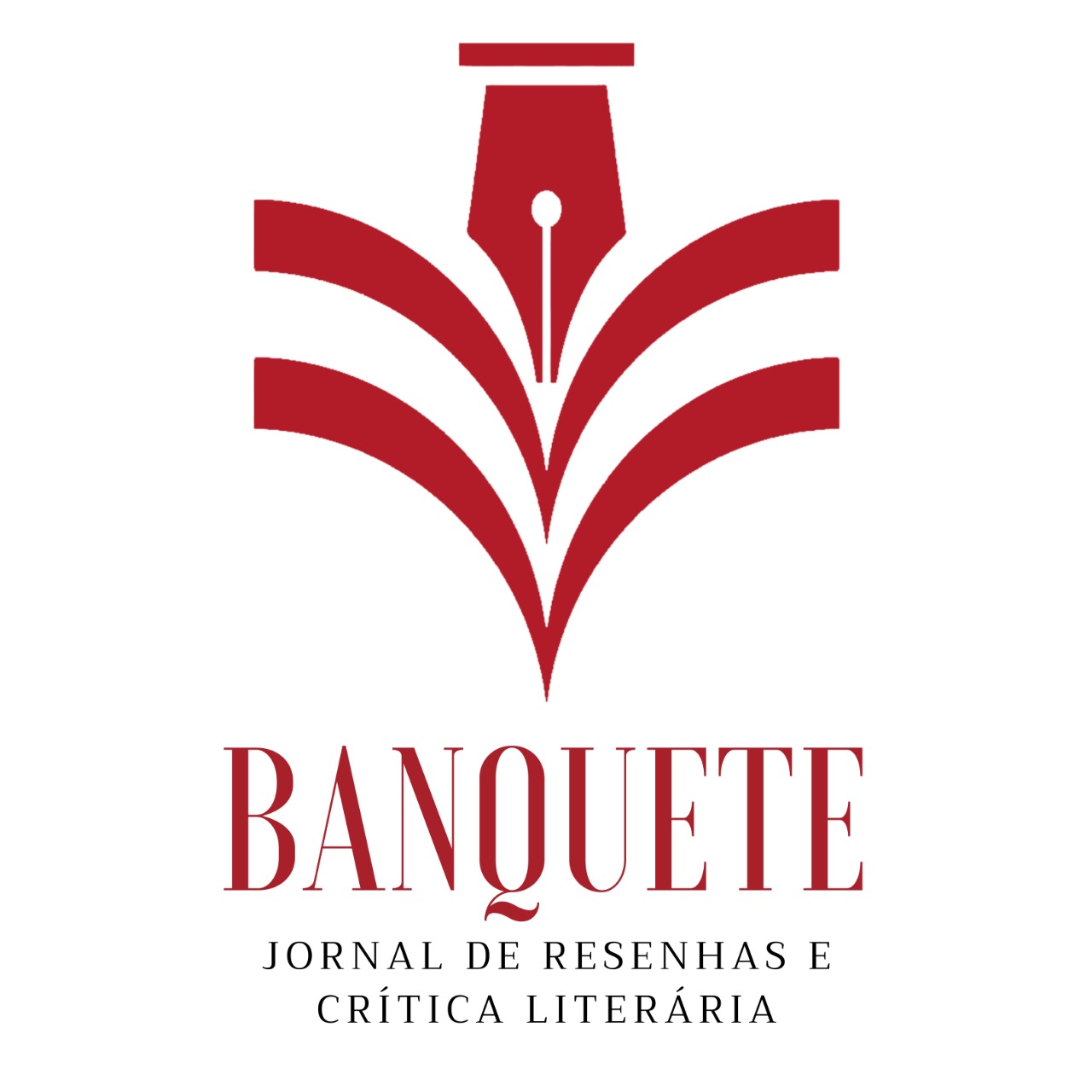
- 24 de ago.
- 6 min de leitura
Por Horácio Costa

Ao longo da história da literatura brasileira, pode-se observar a constante aparição de obras de caráter “experimental”, que contrastam com as estéticas estabelecidas dos diferentes momentos estético-históricos. Se no Brasil a incidência de posturas que hoje chamamos “de vanguarda” configura o que percebemos como uma “tradição”, se hoje esta tradição foi além das margens da história da literatura para ocupar nela uma posição central, este processo se deve muito à obra de Haroldo de Campos. Graças ao seu esforço e de outros tantos “revisores” da historiografia “canônica”, como seu irmão Augusto de Campos, já não se pode ignorar a importância de um Sousândrade no contexto do XIX no Brasil; graças a ele, no âmbito do modernismo, as proposições audazes do “antropófago” Oswald de Andrade já não são vistas como “excentricidades”, segundo as classifica a crítica conservadora, mas como uma parte essencial de nossa cultura. Através do manejo da crítica literária e da poesia concreta, e sem prejuízo do seu constante diálogo, através de suas copiosas traduções, com poética ou poetas estruturantes do paideuma contemporâneo, Haroldo de Campos encontrou uma tradição, à sua medida, no “arquivo” da língua.
Por meio da problematização da “autoridade”, do que à da crítica ou da historiografia consideram como “o mais significativo” na cultura brasileira, este salto, desde as margens até o centro, leva melhor à instauração de uma pluralidade central do que a uma nova configuração de centralidade intransitiva. A substituição de um logos autoritário por outro multiforme é possível somente a partir de um exercício crítico do qual não se exclui a “paixão crítica” de que fala Octavio Paz. O que está em jogo é a superação, através de uma releitura de vozes autorais que entram em choque com uma interpretação ideal ou canônica da cultura vista como autoridade, do mesmo princípio de autoridade que a nomeia, por uma nova forma de ver a história e a mecânica da cultura, em que a autoria sobrenada à autoridade. Em uma palavra, a modernização (ou seja, a pluralização) da cultura na América Latina é o alvo. Ao fim e ao cabo, o trabalho, desde as margens até uma centralidade difusa, afirmar-se em função de um projeto de afiançar de alguns dos valores que devem constituir as bases da cultura continental – tolerância, universalidade, pluralidade –, e não pode ser interpretado como uma mera projeção do indivíduo. Para que este processo não se confunda com o grito do “eu” oprimido contra o logocentrismo autoritário e se apresente para este como uma alternativa ética, uma norma, pelo menos, é necessário o rigor:
Justamente, é este “rigor militante” que nos ensina a obra de Haroldo de Campos, tanto em sua poesia como em sua crítica literária (melhor diria: em sua “epistemologia”). Os livros aos que me referi são bons exemplos do que disse. Começaremos por Transideraciones.[1]
Nesta primeira antologia poética publicada em castelhano, os antologistas nos oferecem um resumo do trajeto textual de Haroldo de Campos. Na leitura deste trajeto, observamos que sua poesia funda-se em torno de duas posições básicas. Uma delas nos leva exatamente ao rigor. Já no poema “Ciropedia o la educación del príncipe” (de Auto do possesso, 1949), encontramos o seguinte verso: “El preceptor –Meisterludi– dá o tema: rigor!”
O rigor haroldiano, desde o princípio da sua produção poética, faz a minimização de palavras conviver com a maximização de possibilidades interpretativas, sem que isto implique na redução da mensagem poética. Antes que um andaime para construir uma ossamenta minimalista (ou “miserabilista”) na poesia, funciona como acesso a uma reverberação poética que podemos considerar barroca. Não o barroco da desmesura e do capricho, porém o que sabe pensar e, em sua recusa da linearidade e da facilidade, afirma sua realidade e não abdica do dizer concreto. Não se trata de um rigor em busca de uma “pureza” ideal. Neste sentido, compreendemos que este se converte em elemento de liberação da palavra e vislumbramos sua afinidade com a segunda posição básica na poesia de Haroldo de Campos: a de construção de um texto multilinear, o que implica na inclusão, no tecido do poema, de todo um universo polilíngue de citações ou referências que se desdobram. Complementariamente, e de acordo com os postulados do movimento da poesia concreta dos anos cinquenta, do qual o poeta foi um dos fundadores, verificamos a utilização de elementos iconográficos no corpo do poema (ou o papel que desempenha a visualidade em muitos dos seus poemas). Em Transideraciones, estes traços gerais são notáveis, por exemplo, nos dois fragmentos de “Galáxias” – em que a “selva” intertextual propõe leituras multiplicantes – e em poemas como “Poemandala” –em que o texto dissemina-se, literalmente, em torno de um signo visual. O rigor de Haroldo de Campos se deixa contaminar e está na história; inclusive, acolhe a contaminação para estar na história dos homens e da literatura. Neste contexto, é fundamental o diálogo com um predecessor seu já mencionado, Oswald de Andrade. No seu prólogo ao diário coletivo da garçonnière que Andrade manteve em 1918, anos antes do surgimento da Semana da arte Moderna, o poeta volta a seus estudos sobre o modernismo.[2]
O texto oswaldiano já tinha sido enfocado por Haroldo nos ensaios sobre os romances Memórias sentimentais de João Miramar (1923), e Serafim Ponte-Grande (1929), escritos quando uma parte considerável da crítica no Brasil insistia em considerá-lo Andrade apenas como um produto pitoresco, neutralizando a transcendência de sua produção literária. No prólogo ao que aqui me refiro, Haroldo de Campos utiliza uma dupla ótica. Por um lado (o menos importante da sua análise), segue o “percurso” textual, estabelecendo os nexos entre a descontinuidade natural da escritura coletiva com a forma fragmentária dos romances posteriores de Oswald. Por outro lado, enfatiza os dados biográficos contidos no diário. Neste sentido, detém-se sobre o papel que nele desempenha Miss Cíclone (a “musa dialógica da pré-história textual oswaldiana”), cuja “presença se impõe à disseminação [...] deste diário [...] proliferante, com a força de um magneto”. Através dos namoros festivos, verdadeiros e infelizes de Andrade com Miss Cíclone, percebemos os traços subjetivos que narram a boêmia paulistana que constitui a humanidade que pôs em marcha a “Semana”. De fato, este diário se lê como uma protoforma de um bildungsroman, ou como uma espécie de “retrato do artista adolescente”, que tem por “herói” o jovem Oswald. A publicação deste diário –no qual devo mencionar o excelente projeto do editor Frederico Nassar– interessa a todos os que indagam, na obra literária, a natureza humana que está na sua origem. Além do mais, no contexto da obra de Haroldo de Campos, seu prólogo vale como um alerta aos que nela buscam equivocadamente identificar sinais de uma alegada “des-humanização”.
Finalmente, O sequestro do barroco na formação da literatura brasileira nos devolve à revisão crítica de Haroldo sobre a história da cultura no Brasil. Aqui, trata-se de problematizar a razão da obnubilação da herança do barroco na historiografia literária brasileira, através da discussão das posições teóricas que levaram à escritura de Formação da literatura brasileira (1959), obra capital do influente crítico Antonio Candido. A partir desta obra, que delimita o período formativo da literatura brasileira entre 1750 e 1880, a crítica no Brasil, com algumas exceções, tem diminuído a importância do barroco, apesar de que, obras originais e de qualidade como a de Gregório de Mattos,[3] no século XVII, pudessem sugerir o contrário. Haroldo de Campos discute em muitos níveis a obra de Cândido; ressalto dois deles.
Em primeiro lugar, o poeta aponta que fazer coincidir a “formação” literária com o processo de independência e afirmação da nação significa circunscrever a autonomia da expressão artística a um estatuto político que muitas vezes pouco tem a ver com ela. Neste sentido, estabelece que a perspectiva histórica sempre é ideológica; no caso de Candido, de uma ideologia “substancialista”, que busca desenhar “o espírito nacional” (o que o teria levado à “absolutização” do modelo romântico). Em segundo lugar, através da discussão da “questão da origem” e do “nome do pai” na literatura brasileira, através da análise das razões que subjazem a esta busca de um “centro”, Campos objeta que o paradigma interpretativo que pode surgir de tais perguntas só pode ser linear e a visão de tradição por ele suscitada, contínua. O que Haroldo de Campos preconiza é uma visão da literatura como serialidade, inclusão e disseminação, não como continuidade, exclusão, unidade. Numa palavra, elogia a diferença e, desta forma, propõe uma identidade baseada na pluralidade.
A série barroca, menos “nacional”, é tão brasileira e universal como as demais séries, a romântico-nacionalista entre elas; na cultura, o “outro” é igual ao “um”. Infelizmente, em países afetados pelo monolitismo, uma crítica como a de Haroldo de Campos sempre é recebida como escândalo ou, o que é pior, com um silêncio que mascara a hostilidade. Por detrás disto, é reduzido ao “pecaminoso” aquilo que não é senão um exercício de liberdade crítica.
Na antologia Transideraciones, o leitor de língua espanhola tem a primeira oportunidade de familiarizar-se com o mais instigante intelectual brasileiro, da segunda metade do século XIX; nos demais livros mencionados, seguirá os caminhos de sua irreprochável trajetória.
______________________________________________________________________________________
* Horácio Costa é poeta, tradutor, professor e ensaísta brasileiro. Vencedor do Jabuti em 2014 por Bernini. Professor universitário, com doutorado pela Universidade Yale, é atualmente livre-docente na Letras-USP. Autor de Fracta: antologia poética (2004) e de Viagem ao México 3 ( 2022).
[1] Haroldo de Campos, Transideraciones/Transiderações.
[2] Oswald de Andrade, O perfeito cozinheiro das almas deste mundo (Ed. facs. Do diário coletivo da garçonnière de Oswald de Andrade, São Paulo, 1918). Com textos de Mário da Silva Brito e Haroldo de Campos (“Réquiem para Miss Ciclone, musa dialógica da pré-história textual oswaldiana”, p. XV-XXV).
[3] Vid, H. de Campos, O sequestro do barroco na formação da literatura brasileira: o caso Gregório de Mattos.





Comentários