Os amigos da intertextualidade e Derrida. ou o decolonial Avant La Lettre
- jornalbanquete
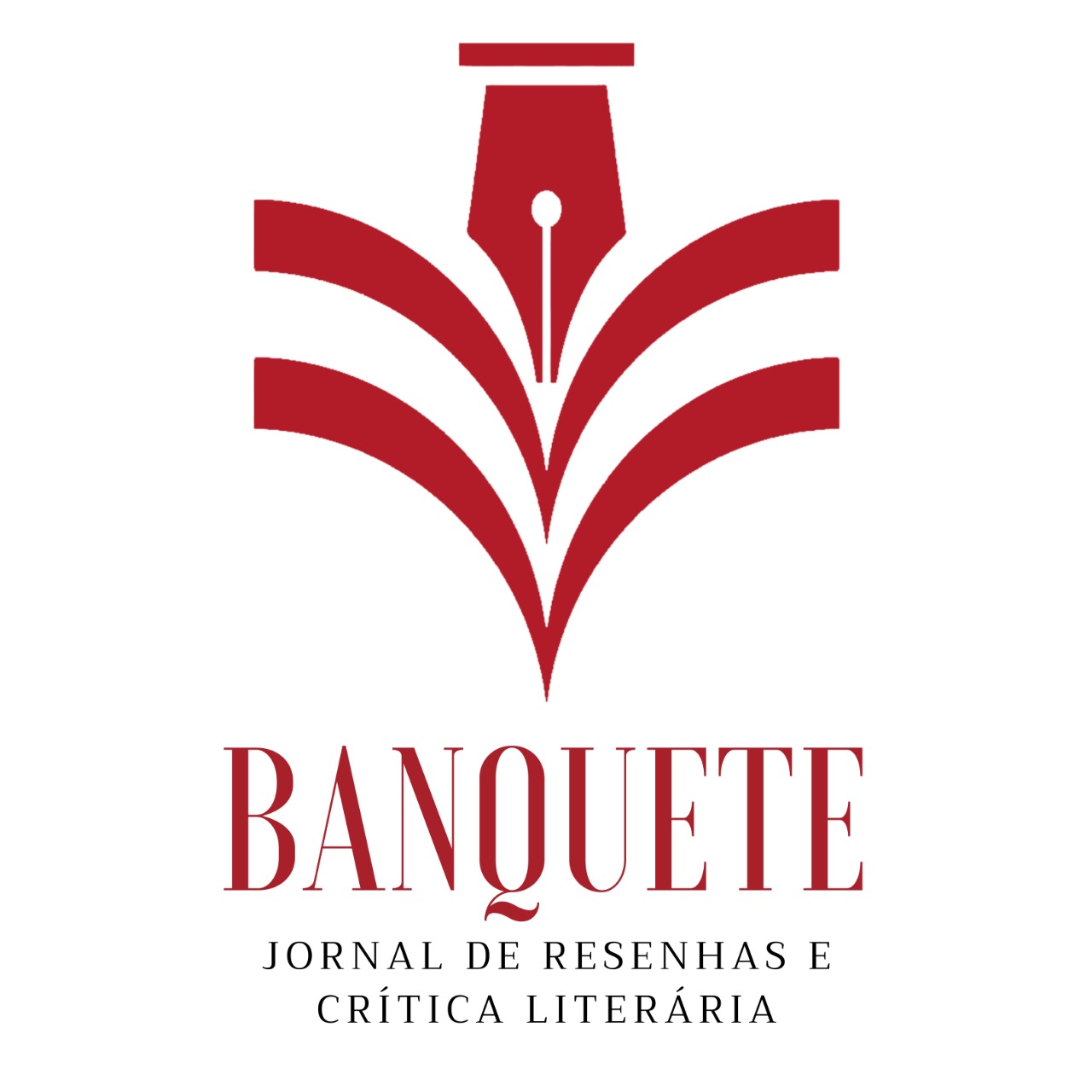
- 24 de ago. de 2025
- 7 min de leitura
Por Leda Tenório da Motta

”Eu só tenho uma língua, e ela não é minha”.
Jacques Derrida
Debruçado sobre a experiência de alunos e professores do curso de Filosofia da antiga Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, à época da Rua Maria Antônia, da perspectiva do provincianismo de seu rigor francês, Paulo Arantes trata de sondar o sentido dessa emulação. Tomá-la como cifra de alienação do intelectual etéreo, dentro das mesmas perspectivas em que a crítica literária brasileira sempre tomou as vanguardas poéticas locais, é todo o seu engajamento nesta pièce à scandale que é Um departamento francês de ultramar. Assim, todo o movimento do livro vai na linha da pesquisa identitária. E vemos o filósofo não apenas distanciar-se desses aprendizes de feiticeiro, junto aos quais ele mesmo se formou, sendo parte ativada da mesma geração, mas buscar situar-se pessoalmente na história, do que nos dá parte nestes termos decididos: “como um veterano interessado em ver claro na sua árvore genealógica”.
Nesse sentido, toda a investigação aí encaminhada visa aquele transplante cultural que, como dizia Macunaíma – na fase em que Mário de Andrade ainda se permitia oscilar entre ser experimentalista e nacionalista –, “esculhamba a inteireza de nosso caráter”. Sendo assim apenas mais um lance na sequência de processos que aqui se movem, mais ou menos desde sempre, contra as culturas ditas de importação, notadamente em plano acadêmico e no domínio das Letras. De sorte que tais novas perquirições acerca da alienação que nos caracterizaria, como periféricos, não apenas entram numa tradição – a história dos brasileiros em seu desejo de terem uma literatura, segundo o mote famoso da escola da literatura-e-sociedade –, mas sugere novas pistas ao avanço dos trabalhos.
É assim que, mais ou menos no mesmo momento da publicação desta obra voltada ao desejo dos brasileiros de terem uma filosofia, que é datada de 1994, vamos surpreender Roberto Schwarz abrindo um espaço em suas referências teórico-literárias para acusar a presença em nosso vocabulário crítico de marcas da chamada filosofia da desconstrução. É o que vemos acontecer nas páginas de um capítulo muito a propósito intitulado “Adequação nacional e originalidade crítica”, de um volume não menos adequadamente nomeado Sequências brasileiras, reunião de ensaios do final do mesmo decênio.
Nessa oportunidade, ao lastro de problemas que já o retinham em Que horas são?, conjunto dos anos 1980, e giravam basicamente em torno da inautenticidade de nossa cultura de empréstimo, vem acrescentar notas sobre o reforço trazido a nosso apego mimético à última novidade estrangeira pelos “amigos da intertextualidade e Derrida”. Apodo entre desenvolto e derrubador com que brinda aqueles críticos formalistas locais, faltos da responsabilidade do intelectual perante a sua circunstância histórica, que agora se rendem aos apelos do pós-estruturalismo francês. Representantes de um “progressismo acomodatício” que, indo na linha da denúncia da “metafísica da presença”, segundo a formulação derridiana, põem-se a recusar a univocidade dos grandes universais, a exemplo da noção de origem, e a propor uma visão das literaturas, inclusive filosóficas, como acontecimentos puramente nocionais. E com isso a advogar que, nem por gravitarem economicamente fora dos grandes centros capitalistas, os latino-americanos estariam metafisicamente fadados à inferioridade da imitação. Reivindicação assim rebatida nas Sequências brasileiras: ao pretender um espaço literário sem fronteiras, a déconstruction fecha os olhos para o fato de que, como a desigualdade, as inovações não se distribuem por igual sobre o planeta.
A constatação de que nos movemos intelectualmente em território ocupado está, em todos os casos, às voltas com a questão do nascimento da nação. Com a diferença que, em Um departamento francês de ultramar, o fantasma do outro estrangeiro que nos ameaça a inteireza do caráter – ou não seria a integridade narcísica? –, assa do poeta viajante ao professor visitante. À marca ibérica do barroco substitui-se o padrão da reflexão transcendental kantiana que rege o modelo da análise de texto dos historiadores da filosofia que aqui desembarcam, no trânsito dos acordos de cooperação, para ensinar a disciplina. Tal marca sendo aquela mesma dessa escola das estruturas de que sai uma nouvelle critique que prima por reduzir os textos ao funcionamento interno, sem referência a nenhuma realidade palpável. O ponto de inflexão do livro sendo que, no contexto local do atraso, esses colaboradores são intelectuais exímios e inócuos, a trabalhar “de costas para a matéria bruta de nossa experiência social”.
Lemos assim, na abertura do volume, intitulada “Certidão de nascimento”, sobre o “apetite macunaímico” com que os alunos da universidade da comunhão paulista – como a chamou Irene Cardoso, historiando os esforços reunidos quando da fundação da USP por políticos brasileiros da era Vargas e missionários franceses, simplesmente “pilhavam” os grandes filósofos da história do pensamento ocidental. E em meio às muitas observações acerca não apenas do autoengano mas da ginástica mental desses veteranos – bem ilustrada pela prosa filosófica da musa do departamento, Bento Prado, que pendia para a poesia – , somos convidados a considerar que a própria Dona Gilda se deixava aculturar.
Trazidas ilustrativamente à baila, vejam-se suas lembranças dos cafés depois das aulas, no tempo em que o Grupo Clima ainda estava se preparando para cumprir seu destino de intérprete de um Brasil brasileiro, e tudo ainda se passava nas imediações da Praça da República. O livro destaca suas menções – inacreditáveis para quem sabe quanto Clima tomou distância crítica dessas determinações –, ao “eco francês” da voz de Jean Maugüé”, que, segundo ela, a todos envolvia numa “doce miragem civilizada”.
Perscrutando os padrões metodológicos da Formação da Literatura Brasileira, que nos remetem a uma gênese da nacionalidade, segundo parâmetros que para um desconstrucionista nada mais seriam que pretensão à fixidez das categorias e fundamentos, Haroldo de Campos efetivamente evoca Derrida, de saída, em O sequestro do Barroco. Repõe aí o desarme hermenêutico da obra princeps do desconstrucionismo, a Gramatologia, seu senso divergente da ideia de cultura original, que neste outro reduto cultural se recobre da acepção de preconceito essencialista. Permite-se contrapor à ancoragem historiográfica do objeto literário – para ele, antes estrutural que conjuntural, ou antes textual que contextual –, o apriori da linguagem e as razões sígnicas do jogo em pauta. Diferentemente da superestrutura marxista, a estrutura linguística não conhece acontecimentos externos.
Além de nos pôr defronte a duas visões de mundo – a segunda coetânea das teorias decoloniais que hoje nos chegam e seus antecedentes cultos –, o que o confronto das teses tem de instigante é o tipo de resposta que Derrida deixa Haroldo e haroldianos darem à pergunta sobre quem somos nós. “Nós somos gregos? Nós somos judeus? Nós somos primeiro judeus ou primeiro gregos? Quem, nós?”, é a pergunta que Derrida oferece, a pretexto de não-resposta, a uma indagação de contornos absolutos. Migrante judeu magrebino, vivendo entre o árabe e o francês, na Argélia da era da colonização, o filósofo está, de fato, em boa posição para medir a violência simbólica das partilhas territoriais, com tudo que implicam de afirmação de certezas étnicas e logo idiomáticas. E, mais ainda, para comensurar tradução e babelização, como na visão transcriativa haroldiana.
Retomada semiótica daquilo que antes entendíamos, de modo impreciso e imaterial, como uma mensagem oculta e sub-reptícia a insinuar-se entre as linhas ou no subtexto das falas, a partir do giro linguístico francês, que Derrida leva às últimas consequências, a linguagem responde por seu próprio jogo, não encoberto, mas explícito, e a intertextualidade refere-se à conectividade dos textos, que se citam, glosam, reinterpretam, traduzem entre si. Isso não necessariamente em cadeia linear evolutiva, ou do começo para o fim, daí a influência, em sua nova acepção, poder ser surpreendida fora do plano cronológico, ou o futuro poder ser visto influenciando o passado. De tal sorte que uma é direção do empréstimo que um Machado de Assis, por exemplo, terá feito de Swift, de Flaubert ou da Carmem de Prosper Mérimée, de que tira os olhos oblíquos. Outro é o efeito que se passa a ver Kafka exercendo sobre seus antecessores, que já não leríamos mais, na tardividade, com a inocência de antes.
Junto com a compreensão linguística de um fenômeno por muito tempo não identificado, embora visivelmente atuante, até mesmo nas performances enunciativas dos críticos que discursam depois dos modernistas, sem saber que os estão citando, a intertextualidade é conceituada como tal, não por Derrida, mas por Julia Kristeva, que sabidamente a tira do dialogismo do formalista russo Mikail Bakhtine. Sem que com isso o conceito seja percebido na França como a marca do colonizador, diga-se de passagem. Ao contrário, num ensaio por isso mesmo histórico, intitulado “L´étrangère”, datado de 1970, Roland Barthes acolhia a contribuição desta búlgara que jamais se sentiu ou foi sentida fora de lugar no centro do Grupo Tel Quel, como força de deslocamento, capaz de fazer avançar a jovem teoria semiológica, por supor uma outra língua, por sua vez capaz de mudar as coisas de lugar. Nota que não deixa de nos fazer pensar no lugar das ideias e nas ideias fora do lugar.
Diferentemente do que acontece com o logos em acepção grega, neste outro regime de colóquio, não mais logocentrado ou falologocentrado, todas as racionalidades particulares são universais. Nos termos de Haroldo semioticista, em Depoimentos de oficina, são linguagens “sem paradigma concluso” (Campos, 2002, p. 66). As diferenças estáveis como as partilhas do centro e da margem, do original e da cópia, do nacional e do estrangeiro, do erudito e do popular, da vanguarda e do subdesenvolvimento... não são mais que lógicas dicotômicas. É deste prisma que partem todos esses pensamentos ditos pós-coloniais ou decoloniais que estão presentemente nos colocando diante de novos influxos bibliográficos e interpelações das identidades sedentárias, inclusive sexuais, justo em nome de Foucault e Derrida. Vejam-se Judith Butler e Paul B. Preciado.
Com o recuo temporal que hoje temos, por que não pensar que a contrapartida haroldiana às teses dos antagonistas de Derrida admite mais de uma língua, contribui para o aperfeiçoamento dos debates, convida à convivência departamental e agencia uma outra maneira de se pensar a alienação?
_____________________________________________________________________________________
* Leda Tenório da Motta é pesquisadora do CNPq nível 1, professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC/SP, crítica literária e tradutora. Recebeu o Prêmio Jabuti pelo volume Proust – A violência sutil do riso. Apresentou Barthes ao Brasil em Roland Barthes. Uma biografia intelectual.


Comentários