Re-visão: dinâmica de Haroldo de Campos na cultura brasileira
- jornalbanquete
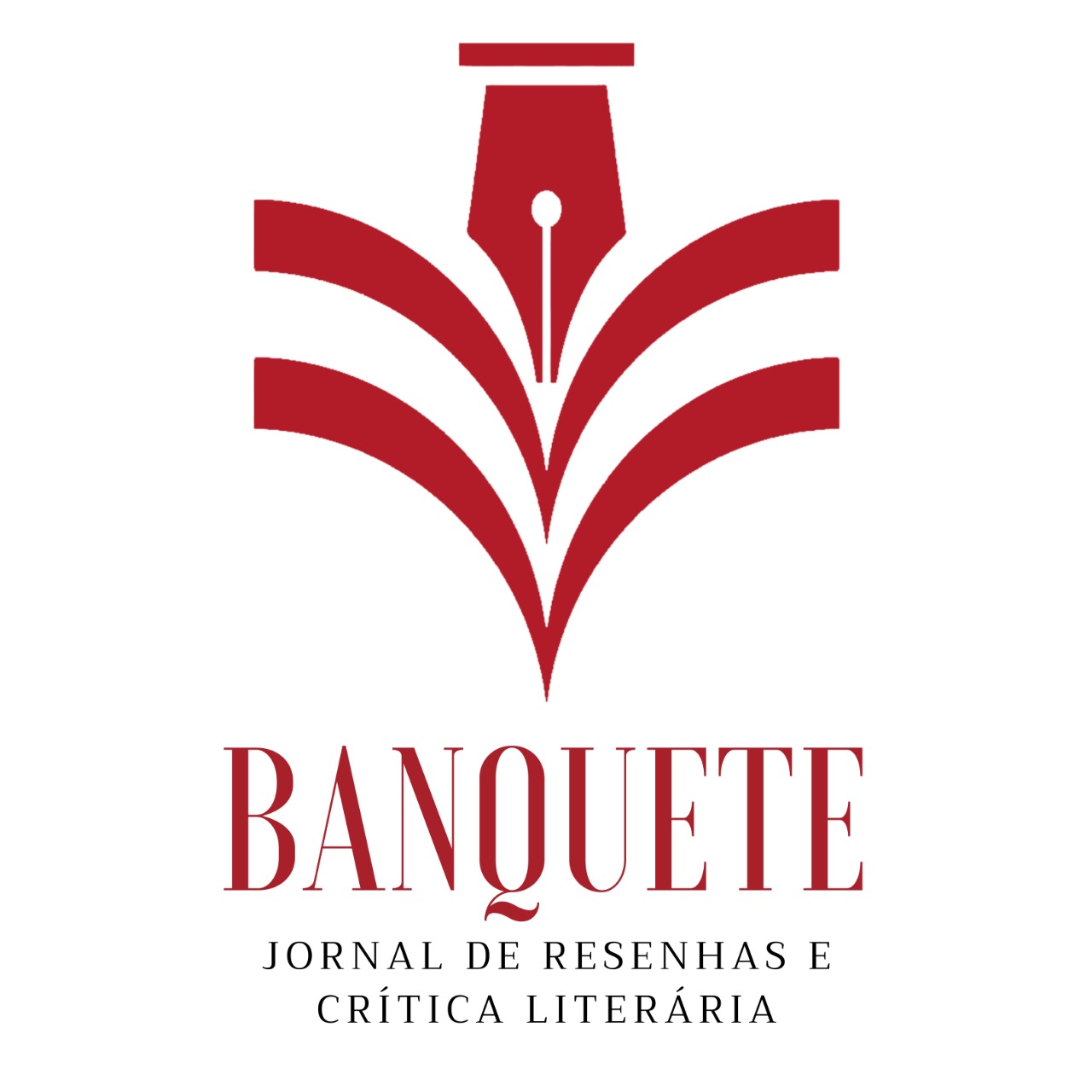
- 24 de ago. de 2025
- 19 min de leitura
Por Horácio Costa

O percurso de Haroldo de Campos permite interpretações panorâmicas, convida a revisitas, solicita cortes avaliativos: a massa considerável de sua produção como poeta, ensaísta, tradutor, ideólogo e animador cultural, hoje plenamente estabilizada no centro mesmo da cultura brasileira, algo proteica e multiforme, presta-se a focalizações de toda ordem, às mais variadas nomeações e a muitas sinalizações interpretativas. Por outro lado, sua obra, que se propôs e se propõe aberta, recusa, entretanto, qualquer horizonte interpretacional único, definitório, não apenas por estar in progress como também por apresentar um valor constitutivo central: o de desconfiar, em princípio, de qualquer esquema analítico cabal ou verocêntrico, já que está, em sua totalidade, integralmente estruturada pelo vetor crítico, por si dinâmico e transformativo.
Em poucas palavras, a qualquer intento de re-visão panoramizadora corresponde, inversamente, uma obra que se nos revela não apenas como quantiosa, em seu inventário, mas também como polifacética, em sua figuração. Panoramizá-la, portanto, implica um risco: o de debuxar um falso perfil genérico num corpo com cinetismo próprio, que desaconselha, em sua moção, qualquer intento de estabilização interpretativa. Tudo isto posto, a re-visão parcial da obra de Haroldo de Campos que segue está condicionada pela consciência desta perigosa situação paradoxal e não pretende ser mais do que um ensaio, no duplo sentido do termo: não apenas um trecho crítico, mas também um gesto intelectual tentativo, que por isto mesmo não abole o acaso e termina por revelar-se como o jogo entre quem ensaia e o azar da interpretação.
A multívia presença haroldiana no contexto brasileiro contemporâneo está caracterizada, segundo meu ponto de vista, por três valores éticos inter-relacionados, que se vinculam a diferentes vertentes discursivas em sua obra e que, igualmente, conformam as bases de uma linha de atuação intelectual, de um projeto cultural de amplo alcance. São estes valores os seguintes: a conciliação, relativamente à sua posição geracional no contexto da poesia brasileira a partir de 1922, a logo-descentralização, relativamente à sua atividade como crítico do logos nacional-formativista na historiografia da literatura brasileira, e a dinamização cultural, relativamente aos diálogos que manteve, ao longo de sua carreira, com outras áreas da produção artística, tais como as artes visuais, o teatro e a música popular. No presente trabalho tratarei principalmente do primeiro destes tópicos; o segundo deles, ao qual já me referi num texto anterior, [1] aludirei, a seu tempo, de forma complementar.
Ao longo de sua obra, Haroldo de Campos adotou com clareza duas posições, a vanguardista e a pós-vanguardista – ou, segundo o poeta, “pós-utópica”, termo que ele quiçá não desacertadamente prefere a “pós-moderno” –, [2] cuja sucessividade resume, no contexto da cultura brasileira e com as reservas óbvias, as posturas estéticas, ideológicas e vivenciais das duas primeiras gerações modernistas. Como é sabido, estas foram as responsáveis pela implantação do discurso da modernidade internacional no Brasil, inaugurando com a sua apropriação criativa dele toda uma mecânica de produção artística nacional que as define como as fundadoras de todo o discurso posterior da cultura brasileira.
Como já tive oportunidade de explicitar num ensaio publicado no México, “Panorama de la poesía brasileña en el siglo XX”, [3] penso que o momento geralmente conhecido como “heroico” da primeira geração modernista – que corresponde ao lapso entre a Semana de Arte de São Paulo, de 1922, e a crise nacional de 1929/30 –, movido por uma visceral corda de transformação e que tão fundas repercussões alcançou na vida intelectual brasileira, representa, em que pese as excelências de muitos dos produtos literários nele surgidos enquanto artefatos "modernos”, um estágio introdutório e, mesmo, anterior à modernidade plena. À fúria ou à paixão iconoclasta do Mário de Andrade do “Prefácio Interessantíssimo” (a Pauliceia Desvairada, em 1921), ou do Oswald “ponta-de-lança”, que redige os fundamentais manifestos “Pau-Brasil” e “Antropófago” na década de vinte, que tiveram como resultado a criação exemplar de uma plataforma para a expansão de uma arte nacional de vanguarda, seguem, entre os jovens que se afirmam no quadro da geração seguinte, duas vozes menos furiosas em sua dicção e menos programadas para veicular um projeto cultural radicalmente transformador: o reticente Carlos Drummond de Andrade e o atípico (em relação ao quadro literário da época), surreal-metafísico Murilo Mendes.
Entre estes últimos poetas, o traço comum que aqui me interessa sublinhar é a afirmação-superação que fazem de algumas posturas éticas que a geração “heroica” de nosso modernismo tinha adotado em seu combate com a cultura brasileira oficial. São ambos, naquele momento inaugural de suas carreiras, prolongações críticas, e nem por isto não-simpáticas, da obra inseminadora de seus antecessores. Sua grande aportação ao modernismo é, como apontei acima, uma mudança tonal na qual percebemos a alteração do tonus “antagonista” e “ativista” – uso aqui a trilhada terminologia de Renato Poggioli em The Theory of the Avant-Garde–, [4] que caracterizaram nossa primeira vanguarda.
O Drummund gauche e ensimesmado, que problematiza o impulso e a escritura poética em “Procura da Poesia” (de 1945), no qual preconiza ao leitor-poeta “penetrar surdamente no reino das palavras” que “se transformam em desprezo”, já em “Hino Nacional" (de Brejo das Almas, 1934) diz que “precisamos esquecer o Brasil”, porque:
Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil.
Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros?(...)
Contrapõe-se, assim, à dicção afirmativa, um tanto eufórica e “nacional” do primeiro modernismo, especialmente da obra do Mário de Andrade “heroico”, seu evidente mestre e primeiro interlocutor.[5] Em sua obra poética ulterior, Mário persistirá na utilização de um vocabulário e uma sensibilidade “nacionais”, dessa forma perseguindo a concreção de um sempre mirífico projeto de escrever numa língua poética tipicamente brasileira. Por outro lado, seu desencanto com os caminhos da cultura nacional posteriores a 1930 torna-se patente num poema tardio como “Meditação sobre o Tietê” (escrito em 1944-5), no qual o ex-poeta “futurista”, desconsoladamente se pergunta o que havia sucedido com o espírito das “Juvenilidades Auriverdes”, espírito anarquizante e liberador que regira, em sua já mencionada obra de estreia, Pauliceia Desvairada, seu então ousado “oratório profano”, “As Enfibraturas do Ipiranga”.[6] Ainda, em sua famosa conferência-testamento de 1942, “O Movimento Modernista”, Mário de Andrade dirá que os fogosos participantes de 22 não eram mais que "os filhos finais de uma civilização que se acabou", ao que acrescenta que "é sabido que o cultivo delirante do prazer individual represa as forças dos homens sempre que uma idade morre”.[7]
Por sua vez, o Murilo Mendes que, em seu primeiro livro, Poemas, publicado em 1929, se descreve a si próprio como “a luta entre um homem acabado/ e um outro homem que está andando no ar” (em “A Luta”), é aquele que em “Pós-Poema” (de Mundo Enigma, 1942), dirá: “Não se trata de ser ou não ser,/ Trata-se de ser e não ser(...)”,versos cuja simplicidade contrasta, em sua radical indiferenciação, com a nota introdutória que Oswald antepõe ao texto de Serafim Ponte Grande, escrita em 1933, na qual o ideólogo da mais promissora vertente modernista confessa-se um “palhaço de classe” e classifica seu "grande não-livro de fragmentos de livros" –conforme a acertada definição de Haroldo de Campos sobre Serafim…–, [8] como um “necrológio da burguesia” e “epitáfio” do que ele, Oswald, quem ora se propõe ser uma “casaca de ferro da Revolução Proletária”, fora durante o período “de guerra” do Modernismo. Expressando uma tendência à radicalização autocrítica semelhante à da passagem antes citada de Mário de Andrade, a verve oswaldiana se caracteriza bem na passagem em que Oswald dá, demonstrando um enorme rancor contra seu passado literário, uma certidão de óbito a toda a empreitada modernista, na sua referida nota introdutória a Serafim Ponte-Grande:
O movimento modernista, culminado no sarampão antropofágico, parecia indicar um fenômeno avançado. São Paulo possuía um poderoso parque industrial. Quem sabe se a alta do café não ia colocar a literatura nova-rica da semicolônia ao lado dos custosos surrealismos imperialistas? [9]
Os conflitos político-ideológico e a mea-culpa de Oswald de Andrade, indiciados nestas passagens, estiveram presentes em sua obra até a retomada dos explosivos conteúdos da Antropofagia nos ensaios “A Crise da Filosofia Messiânica” e “A Marcha das Utopias”, no começo da década de cinquenta, pouco tempo antes de sua morte. Seus conflitos entram em consonância com o desencanto saudosista de Mário de Andrade, e também com seu menos espetacular mea-culpa, traços que intermitentemente marcaram a obra mariana até o final – em que pesem momentos de maior objetivização, como na já citada conferência-testamento, nos que Mário diz que "o direito permanente à pesquisa estética; a atualização da inteligência artística brasileira; e a estabilização de uma consciência criadora nacional" constituíam o principal legado do Modernismo–. [10]
Mesmo que consideremos os fatores históricos de retração econômica e radicalização política internacional do pré-Segunda Guerra, e apesar das evidentes diferenças de temperamento entre os dois principais magnetos de nosso primeiro modernismo, a ênfase na cisão entre o momento “heroico” e o posterior, comum a ambos, apontam, em seu horizonte, para um mesmo sentido ético: a irreconciliação entre os momentos vanguardista e pós-vanguardista; de uma forma menos nítida, aponta, também, para a divisão entre o indivíduo programático e o indivíduo crítico, sutil esquizoidia vivencial e cultural que não vemos aparecer nem no Drummond reticente, nem no atípico, surreal-metafísico Murilo Mendes, que nasceram, em termos literários, tanto menos doutrinários quanto mais imbuídos de relatividade.
O papel da segunda geração modernista no Brasil foi, portanto, seguir adiante o vetor de liberação da primeira, incorporando-o plenamente à sua produção textual, porém agregando a isto uma especificidade tonal, que hoje se nos revela como necessária para a sobrevivência mesma do Modernismo como movimento de amplo alcance; sem a intervenção desta geração estabilizadora, talvez o enorme esforço criador do momento anterior ter-se-ia tragicamente diluído, à imagem do que aconteceu em muitos lugares.[11] Como apontei anteriormente, obrando no sentido de transformar o que poderia ter sido um momento num sistema literário, a geração de 1930 completa o trânsito entre o Modernismo e a Modernidade.
Este trânsito afortunado, entretanto, teria corrido o risco de evaporar-se se a miopia estético-ideológica e a incúria parricida da geração de 1945, excetuada a vertente cabralina, porventura se tivessem afirmado no devir da poesia brasileira. Aquela que pela cronologia é a terceira geração a surgir depois do Modernismo, revelou-se uma agrupação crepuscular, demasiado atraída pela segurança que significa a utilização irreflexiva das formas tradicionais e demasiado permeável às correntes existencialistas do pós-guerra. Uma geração como esta, em extremo autocomplacente, e mais vinculada à sua promoção narcísica que à problematização do fazer poético, avessa a considerar criticamente sua incumbência dentro do painel evolutivo da literatura à qual está afiliada, convida, de modo natural, à sua contestação por parte daqueles que a seguem.
Neste sentido, o movimento da poesia concreta, que se formaliza aproximadamente dez anos depois dela, ainda que sendo cronologicamente a quarta geração a partir de 1922, representa a terceira afirmação do movimento modernista e a segunda reciclagem do mesmo no panorama brasileiro, afirmação e reciclagem que se opõem, nos termos mais mínimos, ao esvaziamento do impulso modernista que havia coordenado a atuação da geração de 1945. Ao reclamar como sua a herança modernista, apropriando-se dela segundo suas necessidades mais de trinta anos depois do movimento de 1922, os poetas concretos da década de 1950, vistos a quase quarenta de terem acedido protagonicamente à linha de frente da cultura brasileira, nos permitem identificar neste seu resgate um arco intergeracional que, com suas variantes porém com seus evidentes pontos de contato, constitui aquilo quer poderíamos chamar de tradição moderna brasileira, originada num momento modernista e conformada por sístoles e diástoles às quais não estaríamos longe da verdade ao afirmar que se associam a períodos de implantação de movimentos de vanguarda e sua subsequente estabilização –mecânica que não difere, aliás, do padrão internacional de recepção dos movimentos de vanguarda em qualquer cenário cultural.
Ultrapassaria os limites deste trabalho esmiuçar a oposição do movimento da poesia concreta com relação aos membros de 1945, nem quais foram suas variantes e seus pontos de contato com as duas primeiras gerações antes referidas. Numa conferência-balanço de sua trajetória poética pronunciada no México, "De la Poesia Concreta a Galáxias y Finismundo: cuarenta años de actividad poética en Brasil", [12] é o próprio Haroldo de Campos, referindo-se ao momento anterior à poesia concreta – à "difícil alvorada", no dizer de Sérgio Buarque de Hollanda –, e falando em seu nome como nos de Augusto de Campos e Décio Pignatari, quem resume da seguinte maneira o primeiro destes tópicos:
El ideario de los poetas del 45, su antiexperimentalismo, su inclinación al decorum y el comedimiento, su preocupación por el clima del poema (donde todo fuese armonía y consonancia) era algo que no nos atraía a nosotros tres, poetas novissimos, que admirábamos la sintáxis subversiva y el léxico enigmático de Mallarmé; que estábamos descubriendo el método ideográmico de los Cantos de Ezra Pound; que leíamos con entusiasmo al Apollinaire de Lettre-Océan y de los Caligrammes y al Lorca de las metáforas disonantes de Poeta en Nueva York.
Mais adiante, no mesmo texto, refere-se ao segundo tópico acima assinalado, dizendo que, com o lançamento da poesia concreta em 1956, ele e seus jovens companheiros retomavam “el hilo conductor de la vanguardia experimental de los años veintes, interrumpido por el anclaje neoparnasiano de la conservadora Generación del 45”.
À imagem da geração de 1922, o movimento da poesia concreta é tanto experimental como militante; como aquela, esta significa um esforço bem sucedido de aggiornamento do processo criativo brasileiro. Este aggiornamento, entretanto, apresenta um valor diferente daquele auspiciado pela empreitada modernista de 1922: já não mais implica a importação criativa de informações internacionais, mas sim a criação e exportação de conteúdos e de uma linguagem próprios, nacionais em sua localização, e mesmo em sua radicação, porém não em um horizonte ideológico nacionalista – no que revela a assunção definitiva de um projeto nacional aberto. Combatendo o nacionalismo “ontológico” em nome de um nacionalismo “modal” – a terminologia é de Haroldo de Campos –,[13] fato que se torna mais digno de encômio quando se considera que esta abertura programática se dá num momento de radicalização político-ideológica mundial, no auge mesmo da guerra fria, a poesia concreta leva à prática o axioma oswaldiano, de criar uma “poesia de exportação”, condizente com a atualidade internacional. Em termos de nosso processo literário, o momento “heroico”, antagonista-ativista, da poesia concreta é, devido a este fator entre tantos outros, num duplo aspecto “pós-modernista”: porque se inspira no espírito de luta do modernismo de primeira hora, e porque leva à concreção, à prática, um vetor desenhado, porém não totalmente realizado, no projeto estético-ideológico modernista. Assim, o rigor intelectual e expressivo que projetam e ao qual se submetem, como signo distintivo, os membros do grupo noigandres, responde tanto à trivialização de uma herança viva por parte da geração de 45, como a uma “rigorização” dos postulados mais ambiciosos do inseminador grupo de 22.
Três foram, segundo meu ponto de vista, os maiores resultados da intervenção da poesia concreta no cenário da literatura brasileira contemporânea. A dois já aludi: por um lado, o ter restaurado, sob a égide do “pai antropófago” Oswald de Andrade, o espírito da vanguarda dos anos 20 que, segundo a ótica da geração de 45, parecia uma referência histórica, porém não mais uma sensibilidade atuante. Por outro lado, a partir de uma abertura de referenciais e da revisão da noção “ontológica” de nacionalismo literário que, então como hoje, ameaça com o fechamento e a autogratificação populista a livre empresa intelectual, ter feito frente ao debate ideológico central da cultura brasileira nos anos 50, da oposição vanguarda-subdesenvolvimento, defendendo, ao abraçar o primeiro destes termos, o risco criador ante o policiamento ideológico que a deriva neoconcretista, preocupada com adequar o discurso artístico às limitações da realidade social, assumira, nos últimos anos daquela década, como seu horizonte de ação. Neste sentido, os poetas concretos atualizavam à sua medida as declarações de Mário de Andrade na conferência de 1942, sobre o papel liberador do Modernismo na cultura brasileira, anteriormente citadas.
O terceiro grande mérito do movimento da poesia concreta foi ter sabido garantir o trânsito, através de seu próprio desenvolvimento, entre este espírito de restauração crítica da vanguarda, e o momento subsequente, que se vive atualmente no Brasil. Se se considera que a posição do concretismo “heroico” foi “pós-modernista”, como disse acima, a superação da poesia concreta por si mesma, que assume variados perfis nas obras de cada um de seus membros fundadores, nos permite ver esta evolução como a forma mais explícita de acesso à “pós-modernidade” no Brasil – conceito aqui manejado numa acepção principalmente geracional que não problematiza, portanto, os ecos epistemológicos que esta noção difusa assumiu nas últimas décadas.
Como disse no princípio deste ensaio, coube à geração da poesia concreta, e em especial ao crítico melhor articulado entre seus membros, Haroldo de Campos, re-editar, no contexto da cultura brasileira atual, as duas posições que historicamente definiram as atuações das duas primeiras gerações pós- 1922, a modernista de Mário e Oswald de Andrade, e a moderna de Drummond e Murilo Mendes. Esta capacidade de evolução interna, que não deixa de lado nem o espírito crítico nem o impulso criador que haviam caracterizado sua produção “heroica”, e que tampouco se traveste de um discurso dominado pela perplexidade ou pelo desencanto, indica que no trânsito de vanguarda a pós-vanguarda – ou, se quisermos, “pós-utopia”, para usar o termo haroldiano –, do momento pós-modernista ao pós-moderno (termo aqui tomado com as ressalvas apontadas), a cultura brasileira chega à plena maturação, afirmando, de modo tangencial, o vetor de vanguarda como o mais importante, se não é que o definitório, em seu crescimento orgânico.
A resistência de uma boa parte da crítica de poesia no Brasil para considerar a capacidade transformacional da vanguarda brasileira em seu julgamento do significado desta corrente em nossa vida cultural é apenas comparável à sua obstinação em proceder à análise das vanguardas a partir de esquemas interpretativos sobredeterminados ou pelo falso critério sociológico, ou pelo preconceito antivanguardista puro e simples, que não escondem a incapacidade de setores de nossa intelligentsia em conseguir formalizar projetos tão abrangentes, tão resistentes ao exame do tempo, e intelectualmente tão promissores, como aquele derivado, por exemplo, da poesia concreta. Reduzir a obra dos integrantes do grupo Noigandres a sua produção dos anos 50, reduzir sua participação na cultura brasileira à transcendência que teve, por exemplo, o “plano piloto para a poesia concreta”, além de negar-lhes os não poucos sinais de vitalidade que vieram dando ao longo dos últimos trinta e tal anos, é abraçar uma visão congelada do processo histórico-literário nacional e recusar-se a considerar o que nele mudou, em termos éticos, para não falar em termos estéticos, entre os anos 30 e os que vivemos.[14]
O papel de Haroldo de Campos, o mais clarividente e articulado dos participantes nesta vanguarda histórica, foi fundamental neste quadro evolutivo. Foge do âmbito deste ensaio focalizar, com a detenção que mereceria, as marcas desta evolução no contexto abrangente de sua produção como ensaísta ou tradutor. Entretanto, quero mencionar dois aspectos inter-relacionados e, segundo meu ponto de vista, importantes para avaliar sua dinâmica no seio da cultura brasileira contemporânea.
O primeiro refere-se diretamente ao valor de logo-descentralização, apontado no princípio deste ensaio. Ele se vincula à transformação do que poderia considerar-se, em seu momento de eclosão, uma noção estática, ou redutiva, de poesia concreta, circunscrita no tempo e apoiada na ruptura do suporte vérsico-lineal em favor da articulação poética verbo-voco-visual, em uma noção dinâmica, que busca reconhecer por esta mesma razão a incidência daquilo que seria a “concretude” poética em autores e épocas distantes no tempo e no discurso, como seriam Dante, Gœthe ou os poetas russos modernos, todos eles traduzidos, entre tantos outros, por Haroldo de Campos (estes últimos, em associação com Boris Schnaiderman); com relação ao acervo literário nacional, o resgate de dialogantes como Pedro Kilkerry e Sousândrade, que Augusto e Haroldo de Campos “reciclam” na década de 70, aponta, teorica e praticamente, ao mesmo sentido de abertura e absorção.
A transformação da poesia concreta de algo “exclusivo” a algo “inclusivo” – de momento em sistema, como foi dito anteriormente em relação ao papel da geração de 1930 – é o que se desenha neste gesto: ao precipuamente tratar de estabilizar, por meio da eleição-interpretação de uma certa tradição, um movimento de ruptura, este gesto aponta para a transformação daquilo que poderia ter-se limitado a uma forma, numa poética.[15] Mesmo que um processo como este não seja particular à literatura brasileira contemporânea, já que, como é sabido, a “invenção de uma tradição” é um dos mecanismos mais definitórios dos movimentos artísticos modernos, em nosso contexto ele foi, e segue sendo, fundamental para a pluralização da intelecção da vida cultural brasileira sobre si mesma e sobre suas relações com o acervo internacional.
Na “Tese VI” sobre a filosofia da história, Benjamin resume da seguinte maneira todo o complexo mecanismo de re-interpretação do tesouro histórico: “To articulate the past historically does not mean to recognize 'the way it really was' (…). It means to seize hold of a memory as it flashes up at a moment of danger.” [16] Em seu processo de autoestabilização, feito através de um exercício real de interpretação do “arquivo” literário jazente, o “perigo” contra o qual combateu a poesia concreta foi a concepção da história geral, e da história literária em particular, como um cenário no qual não teriam guarida as exceções à sua cuidadosamente projetada arquitetura. Aqui, trata-se da substituição de macrocategorias historiográfico-estéticas (Romantismo, Simbolismo, Barroco…) por uma noção de “séries literárias” que evidenciam sinais de mutualidade e percorrem o devir cultural. Pondo em cheque os lugares-comuns da historiografia, e reivindicando “antropofagicamente” nossa inserção num amplo panorama de referências multiculturais, sua intervenção logo-descentralizadora revela-se, para dizê-lo numa palavra, também como democratizadora.
Se neste processo de sincronização serial está em jogo a assunção de uma linhagem de “afinidades eletivas” com o acervo internacional ou nacional, um outro aspecto, vinculado ao anterior e a meu ver não menos significativo do que ele, pode ser percebido na crescente importância que o estudo e a apropriação do barroco adquire na obra de Haroldo de Campos, e que se reflete, de um modo natural, num barroquismo cuidadosamente acalentado em sua escritura poética. Antes de referir-me apenas ao nível mais óbvio de exploração das possibilidades visuais da palavra poética, que aproximam a retórica da poesia concreta ao Barroco histórico, aproximação já explorada por mim num outro ensaio, [17] e que responde, no contexto da poesia haroldiana, a poemas emblemáticos como “nascemorre” e “fome de forma”, quero enfatizar o papel do barroco em sua produção textual-lineal.
A primeira instância a esclarecer é que a relação com a estética barroca em Haroldo de Campos não se opõe ao princípio vetor de toda sua obra, de obediência ao rigor compositivo e intelectual. [18]Já em 1952 o poeta, travestido em seu próprio Mestre, anuncia em “Ciropédia ou a Educação do Príncipe” sua submissão àquele princípio (“À hora dos deméritos o Mestre diz: Rigor!”). Por sua vez, em “Teoria e Prática do Poema” (do mesmo ano), Haroldo refere-se à autogênese da palavra poética nos termos tanto líricos como rigorosos que seguem:
(...)
mensurado geômetra
O poema se medita
como um círculo medita-se em seu centro
como os raios do círculo o meditam
fulcro de cristal do movimento.
O Poema propõe-se: sistema
de premissas rancorosas,
evolução de figuras contra o vento
xadrez de estrelas.
Entre a “mensurada geometria” que o poema não apenas significa como também incorpora em sua forma, e o "vento xadrez de estrelas", referência a uma passagem do “Sermão da Sexagésima”, do autor barroco por antonomásia da língua portuguesa, Padre Antônio Vieira, equilibram-se, in nuce, os dois polos da dicção haroldiana. Esta fusão, em si mallarmeana, entre a palavra-esqueleto e a palavra-disseminação, entre cristal e enxúndia, responde tanto pela experiência escritural de Galáxias como por momentos que encapsulam tudo o que vim dizendo neste ensaio.
Por exemplo, em “Minima Moralia” (de A Educação dos Cinco Sentidos, 1985), ao suporte citacional reduzidíssimo corresponde uma ampla rentabilidade intertextual, procedimento em si quintessencialmente barroco: “já fiz de tudo com as palavras\ agora eu quero fazer de nada”.
Este pequeno poema, que remete tanto ao Adorno de Minima Moralia como ao poema-piada oswaldiano, em suas duas breves linhas encerra, sob a superfície textual que nos recorda o aforismo e o haicai, o trânsito de Haroldo da vanguarda à pós-vanguarda, da utopia do projeto autonutriente à pós-utopia que se nutre da experiência do devir: humor, ironia, clareza de quem soube erigir-se em seu próprio herdeiro e observa-se a si mesmo sob o prisma da conciliação.
Como vimos ao longo deste ensaio, esta faceta ética ultrapassa a dinâmica da localização geracional de Haroldo de Campos na literatura brasileira contemporânea, ponte entre dois momentos, e se apresenta não só como uma direção de produção textual, através da coabitação que nela percebemos entre os vetores do rigor minimalizante e da disseminação barroca, como também como uma característica temperamental de quem, sem abdicar de sua própria trajetória, se encontra aberto aos ventos, não elísios e sempre dessimplificadores, da história atual.
______________________________________________________________________________________
* Horácio Costa é poeta, tradutor, professor e ensaísta brasileiro. Vencedor do Jabuti em 2014 por Bernini. Professor universitário, com doutorado pela Universidade Yale, é atualmente livre-docente na Letras-USP. Autor de Fracta: antologia poética (2004) e de Viagem ao México 3 ( 2022).
Notas
[1] Vide: "Haroldo de Campos: seguimiento de una irreprochable trayectoria", publicado na Revista Vueltanº 163 (Junho de 1990), México D.F, p. 40-1.
[2] Cf. a conferência "De la Poesía Concreta a Galaxias y Finismundo: cuarenta años de actividad poética en Brasil", pronunciada na "Cátedra Guimarães Rosa de Estudos Luso-Brasileiros" da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional Autônoma do México-UNAM, no dia 6 de março de 1991e publicada na revista Vuelta nº, de agosto de 1991, (México, D.F.), nas qual Haroldo de Campos diz: "(…) imaginé Finismundo como un poema 'post-utópico', expresión que prefiero al concepto ya gastado y equívoco de 'post-moderno'".
[3] In: "Panorama de la poesía brasileña en el siglo XX". México, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM, coleção "Cuadernos de Docencia", 1990; 30 pgs. Ver, especialmente, p. 26 e ss.
[4] Cf. Renato Poggioli, The Theory of the Avant-Garde; Harvard University Press, 1968. Vide, especialmente, os capítulos I “The Concept of the Avant-Garde” e II “The Concept of a Movement”.
[5] Veja-se, a esse respeito, a correspondência entre Mário de Andrade e Drummond, que antecede a publicação de Alguma Poesia, primeiro livro de Drummond (1930), ou o encomiástico artigo, “A poesia em 1930”, que já em 1931 Mário de Andrade publicou (reunido em Aspectos da Literatura Brasileira, São Paulo, Martins, 1931, e incluído em Carlos Drummond de Andrade - Fortuna Crítica; organização de Sônia Brayner; Rio de Janiero, Civilização Brasileiro, 1978) sobre Alguma Poesia. Ainda, considere-se o poema “Mário de Andrade desce aos infernos”, preito que Drummond dedica a seu mestre quando de sua morte, incluído em A Rosa do Povo, de 1945.
[6] Para explicitar melhor a amargura mariana, transcrevo a referida passagem de “Meditação sobre o Tietê”: “Qué-de as Juvenilidades Auriverdes!/ Eu tenho mêdo… meu coração está pequeno, é tanta/Essa demagogia, é tamanha,/Que eu tenho mêdo de abraçar os inimigos,/Em busca apenas dum sabor,/Em busca dum olhar,/Um sabor, um olhar, uma certeza…”
[7] Cf.: Alfredo Bosi, História Concisa da Literatura Brasileira; São Paulo, Cultrix, 1981; p. 431.
[8] In: “Serafim: um grande não livro”, prólogo a Serafim Ponte-Grande, de Oswald de Andrade, por Haroldo de Campos. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980; p. 101-127.
[9] Oswald de Andrade: nota introdutória a Serafim Ponte Grande (escrita em 1933); op. cit., p.132.
[10] Cf. A. Bosi, cit., Ibid.
[11]Penso, por exemplo, na relativa obscuridade à qual o Movimento Estridentista mexicano, contemporâneo do Modernismo brasileiro, se viu relegado na mecânica posterior da vida cultural do México, reduzido a uma referência literária um tanto fantasmal, de incerta descendência e infertilizadora atuação enquanto uma força estética e ideológica viva, à diferença do acontecido com o nosso Modernismo.
[12] Cf.a conferência “De la Poesía Concreta a Galaxias y Finismundo: cuarenta años de actividad poética en Brasil”, cit
[13] Cf. Haroldo de Campos: “De la Razón Antropofágica”. México, Vuelta, n. 68, 1982.
[14] Neste sentido, coincido com o que Eduardo Milán expressa em seu “Prólogo a una poesía sin prólogos”, em Transideraciones/ Transiderações, antologia bilingue da obra poética de Haroldo de Campos, recompilada e traduzida por Eduardo Milán e Manuel Ulacia (México, Ediciones El Tucán, 1987; 115 pgs.), no qual o crítico uruguaio diz: "Dado que la poesía concreta en su etapa ortodoxa (...) obligó a sus creadores a una práctica casi anónima por la necesidad de colectivización del poema, la crítica prefirió fijar a los poetas concretos en su etapa 'de guerra', y dejarlos morir en aquella instancia de su producción, como si aquél hubiera sido su último suspiro. Esa fue una de las más hábiles jugadas de la crítica tradicional de poesía en Brasil, puesto que esa imagen cundió por América Latina”. (cit., p. 9).
[15]A este propósito, veja-se o prefácio de Andrés Sánchez-Robayna à edição espanhola bilingue de A Educação dos Cinco Sentidos (La Educación de los Cinco Sentidos, Barcelona, Àmbit, 1990; tradução, prólogo e notas de A. Sánchez-Robayna), no qual o escritor espanhol diz: "En efecto, desde muy pronto los poetas concretos se propusieron una 'retroacción' teórica en su concepción del lenguaje. Los principios de economía, medularidad, esencialidad, fragmentarismo, metalenguaje, son rigurosamente investigados en la poesía del pasado. Esos estudios descubrieron que no sólo se puede hacerse una 'historia' de al actitud concreta desde Homero, sino que, de hecho, son los poetas más atentos a la materialidad del signo aquellos que han representado verdaderos hitos en la historia del lenguaje de la poesía" (cit. p. 14).
[16]In: Walter Benjamin, Illuminations. Ensaios editados e introduzidos porHannah Arendt. New York, Schocken Books, 1969; "Theses on the Philosophy of History", pgs. 253-67; cit. p. 255.
[17]Vide : "Significado de la visualidad en la poesía brasileña". México, Utopías nº 3, septiembre-diciembre 1988; pg. 16-34. Também publicado em Cuadernos Hispanoamericanos nº 495, setembro de 1991; p. 53-78.
[18]Vale a pena recordar o que, já em 1955, Augusto de Campos diz sobre a escritura de seu irmão:"Haroldo de Campos es, por decirlo así, un 'concreto' barroco, lo que lo hace trabajar preferentemente con imágenes y metáforas, que dispone en verdaderos bloques sonoros." (in: "De la Poesía Concreta a Galaxias y Finismundo: cuarenta años de actividad poética en Brasil", cit.).


Comentários