Um breve passeio por “A arte no horizonte do provável”
- jornalbanquete
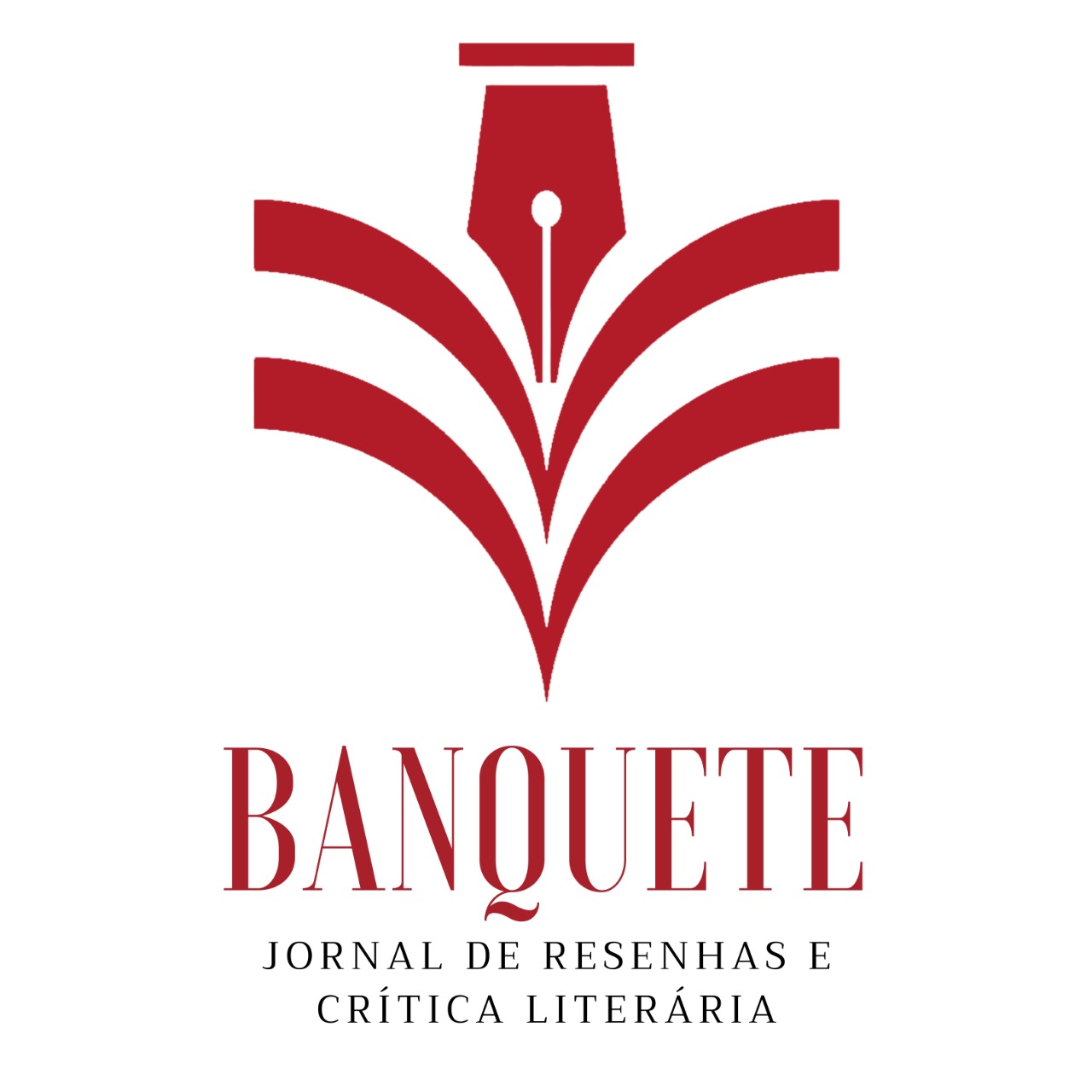
- 24 de ago.
- 5 min de leitura
Por Fabrício Marques

1. O mesmo livro continha muitos poemas, de autores os mais diversos. Foi ali que eu, e provavelmente muitos outros leitores, lemos, pela primeira vez, e num mesmo lugar, um haicai de Buson (“canta o rouxinol / garganta miúda / – sol lua – raiando”), “Perfeições do negro”, de Giuseppe Ungaretti, “Coro dos velhos tebanos”, de Hoelderlin, “Primeira ode pítica”, de Píndaro, “Monotonia do espaço vazio”, de Kitasono Katue, “O infinito”, de Giacomo Leopardi, “O Teixugo Estético”, de Christian Morgenstern, “Casa de prazer”, de August Stramm, “Gramática política”, de Helmut Heisenbüttel, “Canto-chamariz”, de Hans Magnus Enzensberger e poemas de Kandinsky e Paul Klee, além de muitos, muitos outros.
O livro é A arte no horizonte do provável (Ed. Perspectiva), com sua primeira edição lançada em 1969. O autor, Haroldo de Campos.
Ezra Pound já disse, sobre a literatura, que ela é a notícia que permanece novidade, ressaltando assim seu veio atemporal. Poderíamos definir o ensaio e a tradução da mesma forma, gêneros que podem ser lidos tanto em 1969 quanto em 2025 como o mesmo frescor e o mesmo vigor.
2. “Executando a abertura de uma literatura experimental, moderna, aos mitos atuais, o crítico se revela dono de uma escrita sem idade, cuja questão única é a indagação do valor dos textos. Elaborada sem paixão, apoiadas sobre uma documentação estética, rica e vigorosa, estas páginas não darão como lição maior uma aula magna de rebeldia? Caleidoscópio do imaginário, não querem significar que é necessário se compor com a tradição para encontrar dialeticamente outras formas de diálogo e combate? Pela audácia de suas descobertas, pelo ritmo da respiração de sua linguagem e pelas iluminações que projeta, o volume é um dos mais importantes textos de Crítico (com maiúscula) no Brasil contemporâneo.”
Assim o hoje esquecido crítico Nogueira Moutinho (1933-1991) recepcionou A arte no horizonte do provável, atento ao movimento do autor de abrir-se simultaneamente às vanguardas e às tradições.
O livro é organizado em eixos: poética do aleatório, poética do precário, poética da brevidade, poética da tradução, poética da vanguarda, postulando, ao final, uma poética sincrônica. Para Haroldo, haveria duas maneiras de abordar o fenômeno literário. O critério histórico, ou diacrônico, e o critério estético-criativo, ou sincrônico. Este, seguindo os passos de Roman Jakobson – um dos teóricos centrais n’A arte no horizonte do provável –, “considera não apenas a produção literária de um período dado, mas também aquela parte da tradição literária que, para o período em questão, permaneceu viva ou foi revivida”.
Assim, diz Haroldo, os cortes sincrônicos teriam em conta não apenas o presente de criação (a produção literária de uma dada época), mas também o seu “presente de cultura (a tradição que nela permaneceu viva, as revisões de autores, a escolha e reinterpretação de clássicos). Por este motivo, é tão atual e potente os poetas de vanguarda quanto um poema de um poeta clássico como Camões n’Os Lusíadas, vejam só:
No mais interno fundo das profundas
Cavernas altas, onde o mar se esconde;
Lá, donde as ondas saem furibundas,
Quando às iras do vento o mar responde,
Netuno mora; e moram as jocundas
Nereidas; e outros deuses do mar; onde
As águas campo deixam às cidades
Que habitam estas úmidas deidades.
Pois, citando novamente Jakobson, “Ampliação do repertório significa também saber recuperar o que há de vivo e ativo no passado, saber discernir os veios de criação. Todo presente de criação propõe uma leitura sincrônica do passado de cultura”.
3. Numa entrevista a Armando Sergio Prazeres, Irene Machado e Yvana Fechine, Haroldo lembra de uma episódio com Jakobson, seu amigo pessoal. “[Ele] era um homem extremamente aberto. Nunca me esqueço de uma passagem que testemunhei em um encontro na casa do Décio (Pignatari) quando ele pediu para o Augusto (de Campos) ler o poema Cidade. Depois que o Augusto oralizou o poema, Krystina Pomorska, mulher de Jakobson, perguntou como o grande poeticista analisaria aquele poema. Ele respondeu: “Da mesma maneira que eu analisaria um hexâmetro de Homero”. Já imaginou! Olha que resposta, que maravilha! O sujeito era capaz de perceber que, entre a materialidade sígnica do texto homérico e a concreção do poema “Cidade”, punha-se basicamente o mesmo problema, no plano da construção do verso. Se você analisar um hexâmetro do Homero, desde a configuração estético-verbal até a sonoridade interna, verá que o segmento homérico tem uma complexidade que não é diferente da complexidade do poema-“polivocábulo” do Augusto. Eu acho isso um lance trans-histórico que nos mostra como a literatura, por mais de vanguarda que seja, nunca perde o seu fundo: “eu analisaria isso como o hexâmetro de Homero”, saiu redonda a resposta de Jakobson”.
Tendo isso em mente, Haroldo reembaralha as cartas: quando o assunto é a poética do aleatório, ele destaca que, nos caminhos da criação artística de nossos dias, deve ser considerado “o do probabilismo integrado na fatura mesmo na obra de arte, como elemento desejado de sua composição”. Aí estamos, claro, no reino de Mallarmé e a questão do controle do acaso. São aqueles criadores que fazem da categoria do provisório a sua própria categoria de criação. Interessa, aqui, não apenas os poetas, mas também artistas visuais e músicos de vanguarda, como Pierre Boulez (e sua “liberdade dirigida” e John Cage.
Quando está em pauta a poética do precário, o foco é na arte MERZ de Kurt Schwitters, com suas colagens verbais e visuais constituídas de despejo linguístico – “esse amontoado de frases feitas, ecos memorizados de anúncios, citações, convenções sentimentais, expressões de etiqueta, lugares comuns coloquiais etc”.
Nesse ponto, Haroldo está interessado em todos aqueles que contribuem decididamente para o alargamento do arsenal de recursos expressivos específicos da linguagem poética, regenerando a matéria verbal a partir de seus radicais elementares.
Na poética da brevidade, é o momento da homenagem à síntese representada pelo haicai, esta forma que se inicia com Bashô, no século 17, e prossegue no século seguinte com Buson e Issa. Nada mais natural que a forma japonesa seja associada à poesia pau brasil de Oswald de Andrade – “esta, por si só, um tributo à técnica do ideograma”, e, mais à frente, à estética do fragmento de Ungaretti (“A sintaxe despojada, a sutilíssima técnica de cortes e a dialética das pausas, a brevidade programática, a pontuação apenas mentalizada para as imagens que se destacam na página como pétalas, dos poema de “l’allegria”, nunca esquecendo do memorável “Mattina: M’illumini / D’immenso”.
Em todo o livro, pontos luminosos de um crítico altamente erudito, como nesta passagem reveladora. Para Haroldo, “o poeta que traduz/transcria um poema clássico leva, de saída, uma vantagem considerável sobre o erudito não-poeta que translada o mesmo texto – pois o repertório de língua do erudito é muito maior do que o do poeta, mas, em compensação, o repertório de linguagem do poeta de ofício (seu estoque de formas, seu domínio das possibilidades de agenciamento estético da língua para a qual o texto é traduzido) é infinitamente superior ao do scholar que faz as vezes de poeta.”
4. O que parece guiar as escolhas de Haroldo é sempre a “postulação da arte como informação original, na qual a inovação é um componente decisivo”.
Mais tarde, Haroldo afirmaria: “ao projeto totalizador da vanguarda que, no limite, só a utopia redentora pode sustentar, sucede a pluralização das poéticas possíveis. Ao princípio-esperança, voltado para o futuro, sucede o princípio-realidade, fundamento ancorado no presente.”
5. Haroldo Eurico Browne de Campos, obrigado.
______________________________________________________________________________________
* Fabrício Marques é poeta e crítico literário. Publicou, entre outros, A fera incompletude (poesia, 2012), Uma cidade se inventa (reportagem, 2015), Wander Piroli: uma manada de búfalos dentro do peito (biografia, 2018). A máquina de existir (poesia, 2018) e Aço em flor – A poesia de Paulo Leminski (crítica literária, 2. ed. 2024).





Comentários